APOSTILA DE RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
Edição 2025
Preparatório para Concursos Públicos
Material atualizado com os temas mais cobrados pelas principais bancas examinadoras
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO
Bem-vindo à edição 2025 da nossa Apostila de Raciocínio Lógico Matemático para Concursos Públicos. Este material foi cuidadosamente elaborado para atender às necessidades dos candidatos que buscam aprovação em concursos públicos, com foco nos temas mais recorrentes nas principais bancas examinadoras.
O Raciocínio Lógico Matemático (RLM) tem se consolidado como uma disciplina fundamental em praticamente todos os concursos públicos, independentemente da área de atuação. A análise das provas recentes demonstra uma tendência de valorização do pensamento lógico estruturado e da capacidade de resolução de problemas.
Importância do RLM nos Concursos
Nos últimos anos, observamos um aumento significativo no peso atribuído às questões de Raciocínio Lógico Matemático nos concursos públicos. Isso se deve ao fato de que esta disciplina avalia habilidades essenciais para qualquer profissional:
- Capacidade de análise e interpretação de problemas
- Habilidade para identificar padrões e estabelecer relações
- Tomada de decisões baseada em dados e informações
- Pensamento crítico e sistemático
- Resolução eficiente de problemas complexos
Perfil das Bancas Examinadoras
Cada banca examinadora possui um perfil característico na abordagem do Raciocínio Lógico Matemático. Conhecer essas particularidades é fundamental para direcionar seus estudos:
CESPE/CEBRASPE:
- Foco em proposições lógicas e suas negações
- Questões de julgamento (Certo ou Errado)
- Argumentação lógica e validade de argumentos
- Problemas envolvendo verdades e mentiras
FGV:
- Problemas de raciocínio lógico-quantitativo
- Sequências lógicas e padrões
- Análise combinatória e probabilidade
- Lógica de argumentação com situações cotidianas
FCC:
- Lógica sentencial e de primeira ordem
- Equivalências lógicas e implicações
- Diagramas lógicos
- Problemas envolvendo operações matemáticas
VUNESP:
- Problemas de raciocínio lógico-dedutivo
- Sequências numéricas e alfanuméricas
- Problemas de contagem e probabilidade
- Situações-problema contextualizadas
Estrutura da Apostila
Nesta apostila, você encontrará:
- Conteúdo teórico atualizado e alinhado com as tendências das bancas para 2025
- Exemplos práticos e contextualizados
- Questões comentadas das principais bancas examinadoras
- Dicas e macetes para otimizar seu tempo de prova
- Simulado final para testar seus conhecimentos
DICA DE ESTUDO:
Estabeleça um cronograma de estudos dedicando pelo menos 30 minutos diários à resolução de questões de RLM. Alterne entre os diferentes tópicos e bancas para desenvolver versatilidade na resolução de problemas. A prática constante é fundamental para desenvolver a agilidade mental necessária para a prova.
Vamos começar nossa jornada pelo fascinante mundo do Raciocínio Lógico Matemático!
1. PROPOSIÇÕES E CONECTIVOS LÓGICOS
1.1 Proposições
Uma proposição é uma sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeira (V) ou falsa (F), mas não ambas simultaneamente. Este é o princípio fundamental da lógica clássica, conhecido como princípio da não-contradição.
Exemplos de proposições:
- Brasília é a capital do Brasil. (Verdadeira)
- 2 + 3 = 6. (Falsa)
- Todo número primo é ímpar. (Falsa, pois 2 é primo e par)
- A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. (Verdadeira)
- O ano tem 13 meses. (Falsa)
Exemplos de sentenças que NÃO são proposições:
- Que horas são? (Interrogativa)
- Feche a porta! (Imperativa)
- Este enunciado é falso. (Paradoxo)
- Que dia bonito! (Exclamativa)
- x + 3 = 7. (Sentença aberta, depende do valor de x)
Classificação de sentenças:
Analise se as seguintes sentenças são proposições:
a) “Paris é a capital da Itália.”
Resposta: É uma proposição (falsa), pois Paris é a capital da França, não da Itália.
b) “Resolva a equação 2x + 5 = 15.”
Resposta: Não é uma proposição, pois é uma sentença imperativa.
c) “x é um número par.”
Resposta: Não é uma proposição, pois é uma sentença aberta. Seu valor lógico depende do valor atribuído a x.
d) “Se hoje é domingo, então amanhã é segunda-feira.”
Resposta: É uma proposição (verdadeira), pois pode ser classificada como verdadeira ou falsa.
1.2 Proposições Simples e Compostas
As proposições podem ser classificadas em:
Proposições Simples:
São aquelas que não contêm nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma.
Exemplos:
- O céu é azul.
- 7 é um número primo.
Proposições Compostas:
São formadas pela combinação de duas ou mais proposições simples, conectadas por operadores lógicos.
Exemplos:
- O céu é azul e a grama é verde.
- Se chover, então ficarei em casa.
- João é médico ou Maria é advogada.
1.3 Conectivos Lógicos
Os conectivos lógicos são operadores que permitem formar proposições compostas a partir de proposições simples.
Principais conectivos:
| Conectivo | Símbolo | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| Negação | ~, ¬ | Não | Inverte o valor lógico da proposição |
| Conjunção | ∧, e | E | Verdadeira apenas quando ambas as proposições são verdadeiras |
| Disjunção | ∨, ou | Ou | Falsa apenas quando ambas as proposições são falsas |
| Condicional | →, se…então | Implicação | Falsa apenas quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso |
| Bicondicional | ↔, se e somente se | Dupla implicação | Verdadeira quando ambas as proposições têm o mesmo valor lógico |
1.3.1 Negação (~)
A negação de uma proposição p é denotada por ~p (lê-se “não p”) e tem valor lógico oposto ao de p.
Exemplos de negação:
p: “Está chovendo.”
~p: “Não está chovendo.”
q: “Todos os pássaros voam.”
~q: “Nem todos os pássaros voam.” ou “Existe pelo menos um pássaro que não voa.”
r: “Algum número é primo.”
~r: “Nenhum número é primo.”
DICA:
A negação de proposições com quantificadores segue regras específicas:
- Negação de “Todo x é y”: “Existe pelo menos um x que não é y”
- Negação de “Algum x é y”: “Nenhum x é y” ou “Todo x não é y”
- Negação de “Nenhum x é y”: “Existe pelo menos um x que é y” ou “Algum x é y”
1.3.2 Conjunção (∧)
A conjunção de duas proposições p e q é denotada por p ∧ q (lê-se “p e q”) e é verdadeira apenas quando ambas as proposições são verdadeiras.
Exemplos de conjunção:
p: “João é médico.”
q: “Maria é advogada.”
p ∧ q: “João é médico e Maria é advogada.”
Esta proposição composta só será verdadeira se João realmente for médico E Maria realmente for advogada.
1.3.3 Disjunção (∨)
A disjunção de duas proposições p e q é denotada por p ∨ q (lê-se “p ou q”) e é falsa apenas quando ambas as proposições são falsas.
Exemplos de disjunção:
p: “Hoje é segunda-feira.”
q: “Amanhã é terça-feira.”
p ∨ q: “Hoje é segunda-feira ou amanhã é terça-feira.”
Esta proposição composta só será falsa se hoje NÃO for segunda-feira E amanhã NÃO for terça-feira.
ATENÇÃO!
Na lógica matemática, o conectivo “ou” é inclusivo, ou seja, p ∨ q é verdadeiro quando p é verdadeiro, quando q é verdadeiro, ou quando ambos são verdadeiros. Isso difere do “ou” exclusivo (representado por ⊕), que é verdadeiro apenas quando exatamente uma das proposições é verdadeira.
1.3.4 Condicional (→)
A condicional de duas proposições p e q é denotada por p → q (lê-se “se p, então q”) e é falsa apenas quando o antecedente (p) é verdadeiro e o consequente (q) é falso.
Exemplos de condicional:
p: “Estudo para o concurso.”
q: “Sou aprovado.”
p → q: “Se estudo para o concurso, então sou aprovado.”
Esta proposição composta só será falsa se eu estudar para o concurso E não for aprovado.
Análise de todos os casos:
- Estudo e sou aprovado: Verdadeiro
- Estudo e não sou aprovado: Falso
- Não estudo e sou aprovado: Verdadeiro
- Não estudo e não sou aprovado: Verdadeiro
DICA:
A condicional p → q é equivalente a ~p ∨ q. Esta equivalência é muito útil para simplificar expressões lógicas e para determinar a negação de condicionais.
1.3.5 Bicondicional (↔)
A bicondicional de duas proposições p e q é denotada por p ↔ q (lê-se “p se e somente se q”) e é verdadeira quando ambas as proposições têm o mesmo valor lógico.
Exemplos de bicondicional:
p: “O número é par.”
q: “O número é divisível por 2.”
p ↔ q: “O número é par se e somente se o número é divisível por 2.”
Esta proposição composta é verdadeira, pois as proposições p e q são logicamente equivalentes.
Análise de todos os casos:
- O número é par e é divisível por 2: Verdadeiro
- O número é par e não é divisível por 2: Falso (impossível)
- O número não é par e é divisível por 2: Falso (impossível)
- O número não é par e não é divisível por 2: Verdadeiro
1.4 Proposições Categóricas
As proposições categóricas são um tipo especial de proposição que expressa relações entre conjuntos. Elas são muito importantes para a lógica aristotélica e para os silogismos.
Tipos de proposições categóricas:
- Universal Afirmativa (A): “Todo S é P” (Ex: Todo homem é mortal)
- Universal Negativa (E): “Nenhum S é P” (Ex: Nenhum peixe é mamífero)
- Particular Afirmativa (I): “Algum S é P” (Ex: Alguns brasileiros são médicos)
- Particular Negativa (O): “Algum S não é P” (Ex: Alguns números não são pares)
Quadrado de oposições:
As proposições categóricas formam o chamado “quadrado de oposições”, que estabelece relações entre elas:
- Contraditórias: A e O, E e I (se uma é verdadeira, a outra é falsa)
- Contrárias: A e E (não podem ser ambas verdadeiras, mas podem ser ambas falsas)
- Subcontrárias: I e O (não podem ser ambas falsas, mas podem ser ambas verdadeiras)
- Subalternas: A e I, E e O (se a universal é verdadeira, a particular também é)
1.5 Questões Comentadas
(FGV – 2024) Considere a seguinte proposição: “Se estudo, então sou aprovado no concurso”.
A negação lógica dessa proposição é:
- Se não estudo, então não sou aprovado no concurso.
- Se não sou aprovado no concurso, então não estudo.
- Estudo e não sou aprovado no concurso.
- Não estudo ou sou aprovado no concurso.
- Não estudo e não sou aprovado no concurso.
Resolução:
A proposição “Se estudo, então sou aprovado no concurso” pode ser escrita como p → q, onde p = “estudo” e q = “sou aprovado no concurso”.
Para negar uma condicional p → q, usamos a fórmula: ~(p → q) ≡ p ∧ ~q
Aplicando essa fórmula:
~(p → q) ≡ p ∧ ~q ≡ “Estudo e não sou aprovado no concurso”
Resposta: C
(CESPE/CEBRASPE – 2024) Considere as proposições:
p: “João é engenheiro”
q: “Maria é médica”
A proposição “João não é engenheiro ou Maria é médica” pode ser representada por:
- ~p ∧ q
- ~p ∨ q
- p → q
- p ∨ ~q
- ~(p ∧ ~q)
Resolução:
“João não é engenheiro ou Maria é médica” pode ser escrito como ~p ∨ q.
Vamos verificar as alternativas:
a) ~p ∧ q = “João não é engenheiro e Maria é médica” – Incorreto
b) ~p ∨ q = “João não é engenheiro ou Maria é médica” – Correto
c) p → q = “Se João é engenheiro, então Maria é médica”
Sabemos que p → q ≡ ~p ∨ q, portanto esta alternativa também está correta
d) p ∨ ~q = “João é engenheiro ou Maria não é médica” – Incorreto
e) ~(p ∧ ~q) = ~p ∨ ~~q = ~p ∨ q (pela Lei de De Morgan e dupla negação) – Correto
Resposta: B, C e E
(FCC – 2024) A negação da proposição “Todos os políticos são honestos” é:
- Nenhum político é honesto.
- Alguns políticos são honestos.
- Alguns políticos não são honestos.
- Todos os políticos são desonestos.
- Existem pessoas honestas que não são políticos.
Resolução:
A proposição “Todos os políticos são honestos” é uma proposição universal afirmativa (tipo A).
A negação de uma proposição universal afirmativa é uma proposição particular negativa (tipo O).
Portanto, a negação de “Todos os políticos são honestos” é “Alguns políticos não são honestos” ou “Existe pelo menos um político que não é honesto”.
Resposta: C
ATENÇÃO!
A negação de uma condicional (p → q) é uma conjunção (p ∧ ~q), e não outra condicional. Este é um dos erros mais comuns em questões de lógica.
Além disso, é importante lembrar que:
- A negação de “todo” é “algum não”
- A negação de “algum” é “nenhum” ou “todo não”
- A negação de “nenhum” é “algum”
DICA PARA CONCURSOS:
As bancas frequentemente exploram a negação de proposições, especialmente condicionais e proposições com quantificadores. Memorize as regras de negação e pratique com diferentes tipos de proposições.
2. TABELAS-VERDADE E EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS
2.1 Tabelas-Verdade
A tabela-verdade é uma ferramenta fundamental para analisar o valor lógico de proposições compostas em todas as combinações possíveis de valores das proposições simples que as compõem.
2.1.1 Construção de Tabelas-Verdade
Para construir uma tabela-verdade, seguimos os seguintes passos:
- Identificar as proposições simples envolvidas
- Listar todas as combinações possíveis de valores lógicos (V ou F) para essas proposições
- Calcular o valor lógico da proposição composta para cada combinação
O número de linhas da tabela-verdade é 2n, onde n é o número de proposições simples distintas.
Tabela-verdade dos principais conectivos:
| p | q | ~p | p ∧ q | p ∨ q | p → q | p ↔ q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | V | V | V |
| V | F | F | F | V | F | F |
| F | V | V | F | V | V | F |
| F | F | V | F | F | V | V |
2.1.2 Exemplo de Construção de Tabela-Verdade
Construção da tabela-verdade para (p → q) ∧ ~p:
| p | q | ~p | p → q | (p → q) ∧ ~p |
|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | F |
| V | F | F | F | F |
| F | V | V | V | V |
| F | F | V | V | V |
Explicação passo a passo:
- Listamos todas as combinações possíveis de valores para p e q (4 linhas)
- Calculamos ~p invertendo os valores de p
- Calculamos p → q (falso apenas quando p é V e q é F)
- Calculamos (p → q) ∧ ~p aplicando a conjunção (verdadeiro apenas quando ambos são verdadeiros)
2.1.3 Classificação de Proposições Compostas
Com base na tabela-verdade, podemos classificar as proposições compostas em:
- Tautologia: Proposição sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições simples (ex: p ∨ ~p)
- Contradição: Proposição sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições simples (ex: p ∧ ~p)
- Contingência: Proposição que pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos valores lógicos das proposições simples
Exemplos:
1. p ∨ ~p (Tautologia)
| p | ~p | p ∨ ~p |
|---|---|---|
| V | F | V |
| F | V | V |
2. p ∧ ~p (Contradição)
| p | ~p | p ∧ ~p |
|---|---|---|
| V | F | F |
| F | V | F |
3. p → q (Contingência)
| p | q | p → q |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | V |
| F | F | V |
2.2 Equivalências Lógicas
Duas proposições são logicamente equivalentes quando possuem o mesmo valor lógico em todas as linhas de suas tabelas-verdade. Denotamos a equivalência lógica pelo símbolo ≡.
Principais equivalências lógicas:
| Nome | Equivalência |
|---|---|
| Dupla negação | ~(~p) ≡ p |
| Leis de De Morgan | ~(p ∧ q) ≡ ~p ∨ ~q |
| Leis de De Morgan | ~(p ∨ q) ≡ ~p ∧ ~q |
| Condicional | p → q ≡ ~p ∨ q |
| Contrapositiva | p → q ≡ ~q → ~p |
| Bicondicional | p ↔ q ≡ (p → q) ∧ (q → p) |
| Bicondicional | p ↔ q ≡ (p ∧ q) ∨ (~p ∧ ~q) |
| Idempotência | p ∧ p ≡ p |
| Idempotência | p ∨ p ≡ p |
| Comutatividade | p ∧ q ≡ q ∧ p |
| Comutatividade | p ∨ q ≡ q ∨ p |
| Associatividade | (p ∧ q) ∧ r ≡ p ∧ (q ∧ r) |
| Associatividade | (p ∨ q) ∨ r ≡ p ∨ (q ∨ r) |
| Distributividade | p ∧ (q ∨ r) ≡ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r) |
| Distributividade | p ∨ (q ∧ r) ≡ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r) |
2.2.1 Verificação de Equivalências
Para verificar se duas proposições são logicamente equivalentes, podemos construir suas tabelas-verdade e comparar os resultados. Se os valores lógicos forem iguais em todas as linhas, as proposições são equivalentes.
Verificação da equivalência p → q ≡ ~p ∨ q:
| p | q | p → q | ~p | ~p ∨ q |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | V |
| V | F | F | F | F |
| F | V | V | V | V |
| F | F | V | V | V |
Como os valores lógicos de p → q e ~p ∨ q são iguais em todas as linhas, concluímos que p → q ≡ ~p ∨ q.
2.2.2 Aplicações das Equivalências Lógicas
As equivalências lógicas são úteis para:
- Simplificar expressões lógicas complexas
- Determinar a negação de proposições compostas
- Verificar a validade de argumentos
- Resolver problemas de lógica proposicional
Exemplo de aplicação:
Simplificar a expressão: ~(p → q) ∨ (p ∧ ~q)
Resolução:
~(p → q) ∨ (p ∧ ~q)
≡ ~(~p ∨ q) ∨ (p ∧ ~q) [Usando p → q ≡ ~p ∨ q]
≡ (~p ∨ q)’ ∨ (p ∧ ~q) [Notação alternativa para negação]
≡ (p ∧ ~q) ∨ (p ∧ ~q) [Usando Lei de De Morgan: ~(a ∨ b) ≡ ~a ∧ ~b]
≡ p ∧ ~q [Usando idempotência: a ∨ a ≡ a]
Portanto, ~(p → q) ∨ (p ∧ ~q) ≡ p ∧ ~q
2.3 Questões Comentadas
(CESPE/CEBRASPE – 2024) Considere as proposições:
p: “João é médico”
q: “Maria é advogada”
A proposição “João não é médico ou Maria é advogada” pode ser representada por:
- ~p ∧ q
- ~p ∨ q
- p → q
- p ∨ ~q
- ~(p ∧ ~q)
Resolução:
“João não é médico ou Maria é advogada” pode ser escrito como ~p ∨ q.
Vamos verificar as alternativas:
a) ~p ∧ q = “João não é médico e Maria é advogada” – Incorreto
b) ~p ∨ q = “João não é médico ou Maria é advogada” – Correto
c) p → q = “Se João é médico, então Maria é advogada”
Sabemos que p → q ≡ ~p ∨ q, portanto esta alternativa também está correta
d) p ∨ ~q = “João é médico ou Maria não é advogada” – Incorreto
e) ~(p ∧ ~q) = ~p ∨ ~~q = ~p ∨ q (pela Lei de De Morgan e dupla negação) – Correto
Resposta: B, C e E
(FGV – 2024) Considere a proposição composta: “Se estudo e faço exercícios, então sou aprovado no concurso”.
A negação dessa proposição é:
- Se não estudo ou não faço exercícios, então não sou aprovado no concurso.
- Estudo e faço exercícios, e não sou aprovado no concurso.
- Não estudo ou não faço exercícios, ou sou aprovado no concurso.
- Se sou aprovado no concurso, então estudo e faço exercícios.
- Não estudo e não faço exercícios, e não sou aprovado no concurso.
Resolução:
A proposição “Se estudo e faço exercícios, então sou aprovado no concurso” pode ser escrita como (p ∧ q) → r, onde:
p: “Estudo”
q: “Faço exercícios”
r: “Sou aprovado no concurso”
Para negar uma condicional (a → b), usamos a fórmula: ~(a → b) ≡ a ∧ ~b
Aplicando essa fórmula:
~((p ∧ q) → r) ≡ (p ∧ q) ∧ ~r ≡ p ∧ q ∧ ~r
Ou seja, “Estudo e faço exercícios, e não sou aprovado no concurso”.
Resposta: B
(FCC – 2024) Considere a proposição: “Se o candidato estuda, então é aprovado ou faz outro concurso”.
Uma proposição logicamente equivalente a essa é:
- Se o candidato não é aprovado e não faz outro concurso, então não estuda.
- O candidato não estuda ou é aprovado ou faz outro concurso.
- Se o candidato não é aprovado, então não estuda ou faz outro concurso.
- O candidato estuda e não é aprovado e não faz outro concurso.
- Se o candidato estuda e não é aprovado, então faz outro concurso.
Resolução:
A proposição “Se o candidato estuda, então é aprovado ou faz outro concurso” pode ser escrita como p → (q ∨ r), onde:
p: “O candidato estuda”
q: “O candidato é aprovado”
r: “O candidato faz outro concurso”
Vamos analisar cada alternativa:
a) “Se o candidato não é aprovado e não faz outro concurso, então não estuda” = (~q ∧ ~r) → ~p
Usando a contrapositiva: p → (q ∨ r) ≡ ~(q ∨ r) → ~p ≡ (~q ∧ ~r) → ~p
Portanto, esta alternativa é equivalente à proposição original.
b) “O candidato não estuda ou é aprovado ou faz outro concurso” = ~p ∨ q ∨ r
Usando a equivalência da condicional: p → (q ∨ r) ≡ ~p ∨ (q ∨ r) ≡ ~p ∨ q ∨ r
Portanto, esta alternativa também é equivalente à proposição original.
c) “Se o candidato não é aprovado, então não estuda ou faz outro concurso” = ~q → (~p ∨ r)
Esta não é equivalente à proposição original.
d) “O candidato estuda e não é aprovado e não faz outro concurso” = p ∧ ~q ∧ ~r
Esta é a negação da proposição original, não uma equivalência.
e) “Se o candidato estuda e não é aprovado, então faz outro concurso” = (p ∧ ~q) → r
Esta é uma consequência lógica da proposição original, mas não é equivalente.
Resposta: A e B
(VUNESP – 2024) Considere a proposição composta: “Se João é médico, então ele trabalha em hospital ou em clínica particular”. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente a essa.
- João não é médico ou trabalha em hospital ou em clínica particular.
- João é médico e não trabalha em hospital e não trabalha em clínica particular.
- Se João trabalha em hospital ou em clínica particular, então ele é médico.
- Se João não trabalha em hospital, então não é médico ou trabalha em clínica particular.
- João é médico ou não trabalha em hospital ou não trabalha em clínica particular.
Resolução:
A proposição “Se João é médico, então ele trabalha em hospital ou em clínica particular” pode ser escrita como p → (q ∨ r), onde:
p: “João é médico”
q: “João trabalha em hospital”
r: “João trabalha em clínica particular”
Usando a equivalência da condicional: p → (q ∨ r) ≡ ~p ∨ (q ∨ r) ≡ ~p ∨ q ∨ r
Ou seja, “João não é médico ou trabalha em hospital ou em clínica particular”.
Resposta: A
DICA PARA CONCURSOS:
As equivalências lógicas mais cobradas em concursos são:
- p → q ≡ ~p ∨ q (Definição da condicional)
- p → q ≡ ~q → ~p (Contrapositiva)
- ~(p ∧ q) ≡ ~p ∨ ~q (Lei de De Morgan)
- ~(p ∨ q) ≡ ~p ∧ ~q (Lei de De Morgan)
- ~(p → q) ≡ p ∧ ~q (Negação da condicional)
Memorize essas equivalências e pratique sua aplicação em diferentes contextos.
2.4 Aplicações em Problemas de Concursos
Exemplo de aplicação em problema de concurso:
Em uma sala há 5 pessoas: Ana, Bruno, Carlos, Daniela e Eduardo. Sabe-se que:
- Se Ana está na sala, então Bruno também está.
- Carlos está na sala se e somente se Daniela não está.
- Se Eduardo está na sala, então Ana também está.
- Bruno não está na sala.
Quem está na sala?
Resolução:
Vamos representar as proposições:
A: “Ana está na sala”
B: “Bruno está na sala”
C: “Carlos está na sala”
D: “Daniela está na sala”
E: “Eduardo está na sala”
Temos as seguintes informações:
1. A → B (Se Ana está na sala, então Bruno também está)
2. C ↔ ~D (Carlos está na sala se e somente se Daniela não está)
3. E → A (Se Eduardo está na sala, então Ana também está)
4. ~B (Bruno não está na sala)
Da informação 1 e 4, temos:
A → B e ~B
Pela contrapositiva: A → B ≡ ~B → ~A
Como ~B é verdadeiro, então ~A também é verdadeiro, ou seja, A é falso.
Portanto, Ana não está na sala.
Da informação 3 e sabendo que A é falso:
E → A e ~A
Pela contrapositiva: E → A ≡ ~A → ~E
Como ~A é verdadeiro, então ~E também é verdadeiro, ou seja, E é falso.
Portanto, Eduardo não está na sala.
Da informação 2, temos:
C ↔ ~D
Isso significa que C e D têm valores lógicos opostos. Como já sabemos que A, B e E são falsos, então C e D não podem ser ambos falsos ou ambos verdadeiros.
Portanto, ou Carlos está na sala e Daniela não está, ou Carlos não está na sala e Daniela está.
Como não temos mais informações para decidir entre essas duas possibilidades, precisaríamos de mais dados para determinar quem exatamente está na sala.
No entanto, podemos afirmar com certeza que Ana, Bruno e Eduardo não estão na sala.
ATENÇÃO!
Em problemas de lógica com múltiplas condições, é fundamental:
- Representar cada informação usando proposições e conectivos lógicos
- Analisar as implicações lógicas de cada informação
- Verificar a consistência do conjunto de informações
- Extrair conclusões a partir das informações disponíveis
3. ARGUMENTAÇÃO LÓGICA E SILOGISMOS
3.1 Argumentos e Validade
Um argumento é uma sequência de proposições em que uma delas, chamada conclusão, pretende-se que seja consequência lógica das outras, chamadas premissas.
Estrutura de um argumento:
- Premissas: Proposições que servem de base para o argumento
- Conclusão: Proposição que se pretende estabelecer a partir das premissas
Exemplo de argumento:
Premissa 1: Todo homem é mortal.
Premissa 2: Sócrates é homem.
Conclusão: Sócrates é mortal.
3.1.1 Validade de Argumentos
Um argumento é válido quando a conclusão é uma consequência lógica das premissas, ou seja, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente também será verdadeira.
Um argumento é inválido quando é possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa.
Representação formal de um argumento:
P₁, P₂, …, Pₙ ⊢ C
Onde P₁, P₂, …, Pₙ são as premissas e C é a conclusão.
O símbolo ⊢ significa “portanto” ou “implica logicamente”.
3.1.2 Métodos para Verificar a Validade de Argumentos
Existem vários métodos para verificar a validade de um argumento:
1. Método da Tabela-Verdade:
Consiste em construir uma tabela-verdade para o argumento e verificar se, em todas as linhas em que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira.
Exemplo de verificação de validade por tabela-verdade:
Premissa 1: p → q
Premissa 2: p
Conclusão: q
| p | q | p → q | p | q | Premissas verdadeiras? | Conclusão verdadeira? | Válido? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | Sim | Sim | Sim |
| V | F | F | V | F | Não | Não | – |
| F | V | V | F | V | Não | Sim | – |
| F | F | V | F | F | Não | Não | – |
Como na única linha em que ambas as premissas são verdadeiras (primeira linha), a conclusão também é verdadeira, o argumento é válido.
2. Método da Redução ao Absurdo:
Consiste em supor que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, e verificar se isso leva a uma contradição. Se levar, o argumento é válido.
Exemplo de verificação de validade por redução ao absurdo:
Premissa 1: p → q
Premissa 2: p
Conclusão: q
Suponhamos que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa:
1. p → q (verdadeira)
2. p (verdadeira)
3. ~q (negação da conclusão, supostamente verdadeira)
Da premissa 1 e da definição de condicional, sabemos que se p é verdadeiro e p → q é verdadeiro, então q deve ser verdadeiro.
Mas isso contradiz nossa suposição de que ~q é verdadeiro.
Portanto, não é possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa, o que significa que o argumento é válido.
3.2 Regras de Inferência
As regras de inferência são padrões de raciocínio que permitem derivar conclusões válidas a partir de premissas. Elas são fundamentais para a construção de argumentos válidos.
Principais regras de inferência:
| Nome | Forma | Descrição |
|---|---|---|
| Modus Ponens | p → q, p ⊢ q | Se p implica q, e p é verdadeiro, então q é verdadeiro |
| Modus Tollens | p → q, ~q ⊢ ~p | Se p implica q, e q é falso, então p é falso |
| Silogismo Hipotético | p → q, q → r ⊢ p → r | Se p implica q, e q implica r, então p implica r |
| Silogismo Disjuntivo | p ∨ q, ~p ⊢ q | Se p ou q é verdadeiro, e p é falso, então q é verdadeiro |
| Adição | p ⊢ p ∨ q | Se p é verdadeiro, então p ou q é verdadeiro |
| Simplificação | p ∧ q ⊢ p | Se p e q são verdadeiros, então p é verdadeiro |
| Conjunção | p, q ⊢ p ∧ q | Se p é verdadeiro e q é verdadeiro, então p e q é verdadeiro |
Exemplo de aplicação das regras de inferência:
Premissa 1: Se chove, então a rua fica molhada. (p → q)
Premissa 2: A rua não está molhada. (~q)
Conclusão: Não está chovendo. (~p)
Este é um exemplo de aplicação do Modus Tollens:
p → q, ~q ⊢ ~p
Como p → q é verdadeiro (Premissa 1) e ~q é verdadeiro (Premissa 2), podemos concluir que ~p é verdadeiro (Conclusão).
3.3 Silogismos
O silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo que consiste em duas premissas e uma conclusão. É um dos tipos mais antigos e fundamentais de argumentação lógica, desenvolvido por Aristóteles.
3.3.1 Estrutura do Silogismo Categórico
O silogismo categórico é composto por três proposições categóricas (A, E, I ou O) e três termos:
- Termo maior: Predicado da conclusão
- Termo menor: Sujeito da conclusão
- Termo médio: Aparece nas duas premissas, mas não na conclusão
Exemplo de silogismo categórico:
Premissa maior: Todo homem é mortal. (Todo M é P)
Premissa menor: Sócrates é homem. (Todo S é M)
Conclusão: Sócrates é mortal. (Todo S é P)
Onde:
M = homem (termo médio)
P = mortal (termo maior)
S = Sócrates (termo menor)
3.3.2 Figuras do Silogismo
As figuras do silogismo são determinadas pela posição do termo médio nas premissas:
| Figura | Premissa Maior | Premissa Menor |
|---|---|---|
| 1ª | M – P | S – M |
| 2ª | P – M | S – M |
| 3ª | M – P | M – S |
| 4ª | P – M | M – S |
3.3.3 Modos do Silogismo
O modo de um silogismo é determinado pelos tipos de proposições categóricas (A, E, I, O) que o compõem.
Exemplo:
Premissa maior: Todo homem é mortal. (A)
Premissa menor: Sócrates é homem. (A)
Conclusão: Sócrates é mortal. (A)
Este é um silogismo do modo AAA da 1ª figura, também conhecido como “Barbara”.
3.3.4 Regras do Silogismo
Para que um silogismo seja válido, ele deve obedecer a certas regras:
Regras dos termos:
- O silogismo deve conter exatamente três termos.
- O termo médio não pode aparecer na conclusão.
- Um termo que é distribuído na conclusão deve ser distribuído em pelo menos uma premissa.
Regras das proposições:
- Se ambas as premissas são negativas, não é possível tirar uma conclusão válida.
- Se ambas as premissas são particulares, não é possível tirar uma conclusão válida.
- Se uma premissa é negativa, a conclusão deve ser negativa.
- Se uma premissa é particular, a conclusão deve ser particular.
- O termo médio deve ser distribuído em pelo menos uma premissa.
DICA:
Uma proposição distribui um termo quando se refere a todos os elementos desse termo:
- A (Universal Afirmativa): Distribui apenas o sujeito
- E (Universal Negativa): Distribui tanto o sujeito quanto o predicado
- I (Particular Afirmativa): Não distribui nenhum termo
- O (Particular Negativa): Distribui apenas o predicado
3.4 Falácias
Falácias são erros de raciocínio que tornam um argumento inválido, embora possam parecer convincentes à primeira vista.
3.4.1 Falácias Formais
São erros na estrutura lógica do argumento, independentemente do conteúdo das proposições.
Principais falácias formais:
- Afirmação do Consequente: p → q, q ⊢ p
- Negação do Antecedente: p → q, ~p ⊢ ~q
- Termo Médio Não Distribuído: Quando o termo médio não é distribuído em nenhuma premissa
- Ilícita Maior: Quando o termo maior é distribuído na conclusão, mas não na premissa maior
- Ilícita Menor: Quando o termo menor é distribuído na conclusão, mas não na premissa menor
Exemplo de falácia formal (Afirmação do Consequente):
Premissa 1: Se chove, então a rua fica molhada. (p → q)
Premissa 2: A rua está molhada. (q)
Conclusão: Está chovendo. (p)
Este argumento é inválido porque a rua pode estar molhada por outros motivos (alguém lavou a calçada, um cano estourou, etc.).
3.4.2 Falácias Informais
São erros de raciocínio relacionados ao conteúdo das proposições, não à sua estrutura lógica.
Principais falácias informais:
- Ad Hominem: Atacar a pessoa em vez de refutar seus argumentos
- Apelo à Autoridade: Aceitar uma conclusão apenas porque foi proposta por uma autoridade
- Apelo à Ignorância: Concluir que algo é verdadeiro porque não foi provado que é falso, ou vice-versa
- Falsa Dicotomia: Apresentar apenas duas alternativas quando existem outras possibilidades
- Post Hoc: Concluir que um evento causou outro apenas porque o precedeu temporalmente
- Generalização Apressada: Tirar conclusões gerais a partir de uma amostra insuficiente
Exemplo de falácia informal (Apelo à Ignorância):
“Ninguém provou que fantasmas não existem, portanto, fantasmas existem.”
Este argumento é inválido porque a ausência de prova contra uma afirmação não constitui prova a favor dela.
3.5 Questões Comentadas
(FGV – 2024) Considere o seguinte argumento:
Se João estudar, então será aprovado no concurso.
João não foi aprovado no concurso.
Logo, João não estudou.
Este argumento é:
- Válido, pois utiliza corretamente o Modus Ponens.
- Válido, pois utiliza corretamente o Modus Tollens.
- Inválido, pois comete a falácia da afirmação do consequente.
- Inválido, pois comete a falácia da negação do antecedente.
- Inválido, pois as premissas são contraditórias.
Resolução:
O argumento tem a forma:
p → q (Se João estudar, então será aprovado no concurso)
~q (João não foi aprovado no concurso)
∴ ~p (Logo, João não estudou)
Esta é a forma do Modus Tollens: p → q, ~q ⊢ ~p
O Modus Tollens é uma regra de inferência válida, portanto, o argumento é válido.
Resposta: B
(CESPE/CEBRASPE – 2024) Considere o seguinte argumento:
Todo político é corrupto.
João é corrupto.
Logo, João é político.
Este argumento é:
- Válido, pois utiliza corretamente o silogismo categórico.
- Válido, pois a conclusão é uma consequência lógica das premissas.
- Inválido, pois comete a falácia da afirmação do consequente.
- Inválido, pois comete a falácia do termo médio não distribuído.
- Inválido, pois as premissas são falsas.
Resolução:
Vamos analisar o silogismo:
Premissa maior: Todo político é corrupto. (Todo P é C)
Premissa menor: João é corrupto. (J é C)
Conclusão: João é político. (J é P)
Este argumento comete a falácia da afirmação do consequente. Em termos de silogismo categórico, podemos ver que o termo médio (corrupto) não é distribuído em nenhuma das premissas, o que viola uma das regras do silogismo válido.
O fato de João ser corrupto não implica necessariamente que ele seja político, pois podem existir pessoas corruptas que não são políticos.
Resposta: C
(FCC – 2024) Considere o seguinte argumento:
Se o candidato estuda, então é aprovado no concurso.
Se o candidato é aprovado no concurso, então consegue um bom emprego.
Logo, se o candidato estuda, então consegue um bom emprego.
Este argumento é:
- Válido, pois utiliza corretamente o silogismo hipotético.
- Válido, pois utiliza corretamente o Modus Ponens.
- Inválido, pois comete a falácia da afirmação do consequente.
- Inválido, pois comete a falácia da negação do antecedente.
- Inválido, pois as premissas são insuficientes para a conclusão.
Resolução:
O argumento tem a forma:
p → q (Se o candidato estuda, então é aprovado no concurso)
q → r (Se o candidato é aprovado no concurso, então consegue um bom emprego)
∴ p → r (Logo, se o candidato estuda, então consegue um bom emprego)
Esta é a forma do silogismo hipotético: p → q, q → r ⊢ p → r
O silogismo hipotético é uma regra de inferência válida, portanto, o argumento é válido.
Resposta: A
DICA PARA CONCURSOS:
Para identificar a validade de um argumento em questões de concurso:
- Identifique as premissas e a conclusão
- Verifique se o argumento segue alguma regra de inferência válida (Modus Ponens, Modus Tollens, etc.)
- Verifique se o argumento comete alguma falácia formal (Afirmação do Consequente, Negação do Antecedente, etc.)
- Lembre-se: a validade de um argumento depende apenas da sua forma lógica, não da verdade ou falsidade das premissas
ATENÇÃO!
Não confunda validade com verdade. Um argumento pode ser válido mesmo que suas premissas e conclusão sejam falsas. Por exemplo:
Todos os gatos são verdes.
Meu animal de estimação é um gato.
Logo, meu animal de estimação é verde.
Este argumento é válido (segue a forma do silogismo categórico AAA-1), embora suas premissas e conclusão sejam falsas.
4. DIAGRAMAS LÓGICOS
4.1 Diagramas de Venn
Os diagramas de Venn são representações gráficas que utilizam círculos para ilustrar relações entre conjuntos. Na lógica, são utilizados para representar proposições categóricas e verificar a validade de silogismos.
4.1.1 Representação de Proposições Categóricas
As quatro proposições categóricas podem ser representadas por diagramas de Venn da seguinte forma:
1. Universal Afirmativa (A): “Todo S é P”
Representação: A região de S que não está em P é sombreada (vazia).
2. Universal Negativa (E): “Nenhum S é P”
Representação: A região de interseção entre S e P é sombreada (vazia).
3. Particular Afirmativa (I): “Algum S é P”
Representação: A região de interseção entre S e P é marcada com um X (não vazia).
4. Particular Negativa (O): “Algum S não é P”
Representação: A região de S que não está em P é marcada com um X (não vazia).
4.1.2 Verificação de Silogismos com Diagramas de Venn
Para verificar a validade de um silogismo usando diagramas de Venn, seguimos os seguintes passos:
- Desenhar três círculos que representam os termos do silogismo (maior, menor e médio)
- Representar as premissas no diagrama (sombreando regiões vazias ou marcando regiões não vazias)
- Verificar se a conclusão é necessariamente verdadeira com base nas premissas representadas
Exemplo de verificação de silogismo com diagrama de Venn:
Premissa maior: Todo M é P
Premissa menor: Todo S é M
Conclusão: Todo S é P
Representação das premissas:
1. “Todo M é P”: A região de M que não está em P é sombreada (vazia)
2. “Todo S é M”: A região de S que não está em M é sombreada (vazia)
Verificação da conclusão:
Como resultado das duas premissas, a região de S que não está em P também fica sombreada (vazia), o que significa que “Todo S é P” é verdadeiro.
Portanto, o silogismo é válido.
4.2 Diagramas de Euler
Os diagramas de Euler são semelhantes aos diagramas de Venn, mas representam apenas as relações existentes entre os conjuntos, sem mostrar todas as regiões possíveis.
4.2.1 Representação de Proposições Categóricas
As quatro proposições categóricas podem ser representadas por diagramas de Euler da seguinte forma:
1. Universal Afirmativa (A): “Todo S é P”
Representação: O círculo S está completamente dentro do círculo P.
2. Universal Negativa (E): “Nenhum S é P”
Representação: Os círculos S e P estão completamente separados.
3. Particular Afirmativa (I): “Algum S é P”
Representação: Os círculos S e P se sobrepõem parcialmente.
4. Particular Negativa (O): “Algum S não é P”
Representação: Pode ser representada de duas formas:
a) Os círculos S e P se sobrepõem parcialmente (algum S está fora de P)
b) O círculo S está completamente fora do círculo P (nenhum S é P)
DICA:
A principal diferença entre os diagramas de Venn e os diagramas de Euler é que:
- Os diagramas de Venn mostram todas as regiões possíveis, mesmo que algumas sejam vazias
- Os diagramas de Euler mostram apenas as relações existentes entre os conjuntos, sem representar regiões vazias
- Os diagramas de Venn são mais adequados para verificar a validade de silogismos
- Os diagramas de Euler são mais intuitivos para visualizar relações entre conjuntos
4.3 Diagramas Lógicos em Problemas de Concursos
Os diagramas lógicos são frequentemente utilizados em questões de concursos para representar relações entre conjuntos e verificar conclusões lógicas.
Exemplo de problema com diagrama lógico:
Em uma pesquisa com 120 pessoas, verificou-se que:
- 80 pessoas gostam de chocolate
- 70 pessoas gostam de sorvete
- 40 pessoas gostam de chocolate e sorvete
Quantas pessoas não gostam nem de chocolate nem de sorvete?
Resolução:
Vamos representar os conjuntos:
C: pessoas que gostam de chocolate
S: pessoas que gostam de sorvete
Total: 120 pessoas
|C| = 80
|S| = 70
|C ∩ S| = 40
Usando a fórmula: |C ∪ S| = |C| + |S| – |C ∩ S|
|C ∪ S| = 80 + 70 – 40 = 110
O número de pessoas que não gostam nem de chocolate nem de sorvete é:
120 – 110 = 10 pessoas
(CESPE/CEBRASPE – 2023) Em uma pesquisa sobre preferências musicais, 100 pessoas foram entrevistadas e os seguintes dados foram obtidos:
- 60 pessoas gostam de rock
- 50 pessoas gostam de pop
- 30 pessoas gostam de samba
- 25 pessoas gostam de rock e pop
- 15 pessoas gostam de rock e samba
- 10 pessoas gostam de pop e samba
- 5 pessoas gostam dos três gêneros musicais
Com base nessas informações, quantas pessoas não gostam de nenhum dos três gêneros musicais?
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
Resolução:
Vamos representar os conjuntos:
R: pessoas que gostam de rock
P: pessoas que gostam de pop
S: pessoas que gostam de samba
Total: 100 pessoas
|R| = 60
|P| = 50
|S| = 30
|R ∩ P| = 25
|R ∩ S| = 15
|P ∩ S| = 10
|R ∩ P ∩ S| = 5
Usando a fórmula para a união de três conjuntos:
|R ∪ P ∪ S| = |R| + |P| + |S| – |R ∩ P| – |R ∩ S| – |P ∩ S| + |R ∩ P ∩ S|
|R ∪ P ∪ S| = 60 + 50 + 30 – 25 – 15 – 10 + 5 = 95
O número de pessoas que não gostam de nenhum dos três gêneros musicais é:
100 – 95 = 5 pessoas
Resposta: A
4.4 Diagramas de Carroll
Os diagramas de Carroll são uma forma alternativa de representar relações lógicas, utilizando tabelas em vez de círculos. Foram desenvolvidos por Lewis Carroll (autor de “Alice no País das Maravilhas”).
Estrutura do diagrama de Carroll:
O diagrama de Carroll divide o universo em quatro regiões, representando a presença ou ausência de duas propriedades.
| P | não-P | |
|---|---|---|
| Q | P e Q | não-P e Q |
| não-Q | P e não-Q | não-P e não-Q |
Exemplo de representação de proposições categóricas com diagrama de Carroll:
1. Universal Afirmativa (A): “Todo S é P”
| P | não-P | |
|---|---|---|
| S | S e P | ∅ |
| não-S | não-S e P | não-S e não-P |
A região “S e não-P” é vazia (sombreada), indicando que não existem elementos que são S mas não são P.
ATENÇÃO!
Em questões de concursos, os diagramas lógicos mais cobrados são os diagramas de Venn. No entanto, é importante conhecer também os diagramas de Euler e de Carroll, pois podem aparecer em questões mais específicas.
4.5 Questões Comentadas
(FGV – 2023) Em uma empresa com 200 funcionários, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento de idiomas estrangeiros. Os resultados foram os seguintes:
- 120 funcionários falam inglês
- 80 funcionários falam espanhol
- 30 funcionários falam francês
- 40 funcionários falam inglês e espanhol
- 20 funcionários falam inglês e francês
- 10 funcionários falam espanhol e francês
- 5 funcionários falam os três idiomas
Quantos funcionários não falam nenhum dos três idiomas?
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
Resolução:
Vamos representar os conjuntos:
I: funcionários que falam inglês
E: funcionários que falam espanhol
F: funcionários que falam francês
Total: 200 funcionários
|I| = 120
|E| = 80
|F| = 30
|I ∩ E| = 40
|I ∩ F| = 20
|E ∩ F| = 10
|I ∩ E ∩ F| = 5
Usando a fórmula para a união de três conjuntos:
|I ∪ E ∪ F| = |I| + |E| + |F| – |I ∩ E| – |I ∩ F| – |E ∩ F| + |I ∩ E ∩ F|
|I ∪ E ∪ F| = 120 + 80 + 30 – 40 – 20 – 10 + 5 = 165
O número de funcionários que não falam nenhum dos três idiomas é:
200 – 165 = 35 funcionários
Resposta: C
(VUNESP – 2024) Considere o seguinte diagrama de Venn:
Com base no diagrama, qual é o número total de elementos no universo U?
- 65
- 75
- 80
- 85
- 90
Resolução:
Analisando o diagrama:
|A – B| = 25 (elementos que pertencem apenas a A)
|A ∩ B| = 15 (elementos que pertencem a A e B)
|B – A| = 35 (elementos que pertencem apenas a B)
|U – (A ∪ B)| = 5 (elementos que não pertencem nem a A nem a B)
O número total de elementos no universo U é:
|U| = |A – B| + |A ∩ B| + |B – A| + |U – (A ∪ B)| = 25 + 15 + 35 + 5 = 80
Resposta: C
5. LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM
5.1 Introdução à Lógica de Primeira Ordem
A lógica de primeira ordem, também conhecida como lógica de predicados, é uma extensão da lógica proposicional que permite expressar relações entre objetos e propriedades de objetos.
Enquanto a lógica proposicional lida apenas com proposições completas (verdadeiras ou falsas), a lógica de primeira ordem permite trabalhar com variáveis, funções, predicados e quantificadores.
Componentes da lógica de primeira ordem:
- Constantes: Representam objetos específicos (a, b, c, …)
- Variáveis: Representam objetos genéricos (x, y, z, …)
- Funções: Mapeiam objetos para objetos (f(x), g(x,y), …)
- Predicados: Expressam propriedades ou relações (P(x), Q(x,y), …)
- Quantificadores: Universal (∀) e Existencial (∃)
- Conectivos lógicos: Os mesmos da lógica proposicional (∧, ∨, →, ↔, ¬)
Exemplos de expressões em lógica de primeira ordem:
1. “Todos os homens são mortais”
∀x (H(x) → M(x))
Onde H(x) significa “x é homem” e M(x) significa “x é mortal”
2. “Existe pelo menos um número primo par”
∃x (P(x) ∧ Par(x))
Onde P(x) significa “x é primo” e Par(x) significa “x é par”
3. “Para todo número, existe um número maior que ele”
∀x ∃y (y > x)
Onde x e y são variáveis que representam números
5.2 Quantificadores
Os quantificadores são operadores que indicam a quantidade de elementos que satisfazem uma determinada propriedade.
5.2.1 Quantificador Universal (∀)
O quantificador universal (∀) indica que uma propriedade é válida para todos os elementos de um conjunto.
Forma geral:
∀x P(x) – “Para todo x, P(x) é verdadeiro”
Exemplos:
- ∀x (x² ≥ 0) – “Para todo número x, x² é maior ou igual a zero”
- ∀x (H(x) → M(x)) – “Para todo x, se x é homem, então x é mortal”
5.2.2 Quantificador Existencial (∃)
O quantificador existencial (∃) indica que existe pelo menos um elemento que satisfaz uma determinada propriedade.
Forma geral:
∃x P(x) – “Existe pelo menos um x tal que P(x) é verdadeiro”
Exemplos:
- ∃x (x² = 4) – “Existe pelo menos um número x tal que x² = 4”
- ∃x (P(x) ∧ Par(x)) – “Existe pelo menos um número x tal que x é primo e par”
5.2.3 Negação de Quantificadores
A negação de uma expressão quantificada segue regras específicas:
Negação do quantificador universal:
¬(∀x P(x)) ≡ ∃x ¬P(x)
“Não é verdade que para todo x, P(x) é verdadeiro” equivale a “Existe pelo menos um x tal que P(x) é falso”
Negação do quantificador existencial:
¬(∃x P(x)) ≡ ∀x ¬P(x)
“Não é verdade que existe pelo menos um x tal que P(x) é verdadeiro” equivale a “Para todo x, P(x) é falso”
Exemplos de negação de quantificadores:
1. Negação de “Todos os políticos são honestos”
Original: ∀x (P(x) → H(x))
Negação: ¬(∀x (P(x) → H(x))) ≡ ∃x ¬(P(x) → H(x)) ≡ ∃x (P(x) ∧ ¬H(x))
“Existe pelo menos um político que não é honesto”
2. Negação de “Existe pelo menos um número primo par maior que 2”
Original: ∃x (P(x) ∧ Par(x) ∧ x > 2)
Negação: ¬(∃x (P(x) ∧ Par(x) ∧ x > 2)) ≡ ∀x ¬(P(x) ∧ Par(x) ∧ x > 2) ≡ ∀x (¬P(x) ∨ ¬Par(x) ∨ x ≤ 2)
“Para todo número, ou não é primo, ou não é par, ou não é maior que 2”
5.3 Tradução de Sentenças para a Lógica de Primeira Ordem
A tradução de sentenças da linguagem natural para a lógica de primeira ordem é uma habilidade importante para resolver problemas lógicos.
Passos para traduzir sentenças:
- Identificar o domínio (conjunto de objetos sobre os quais se fala)
- Identificar as constantes, variáveis, funções e predicados
- Identificar os quantificadores (universal ou existencial)
- Construir a expressão lógica usando os elementos identificados
Exemplos de tradução de sentenças:
1. “Todos os números primos maiores que 2 são ímpares”
Domínio: Números inteiros
Predicados: P(x) – “x é primo”, I(x) – “x é ímpar”
Tradução: ∀x ((P(x) ∧ x > 2) → I(x))
2. “Existe pelo menos um aluno que passou em todas as disciplinas”
Domínio: Alunos e disciplinas
Predicados: P(x,y) – “x passou na disciplina y”
Tradução: ∃x ∀y P(x,y)
3. “Nenhum número é ao mesmo tempo par e ímpar”
Domínio: Números inteiros
Predicados: Par(x) – “x é par”, I(x) – “x é ímpar”
Tradução: ∀x ¬(Par(x) ∧ I(x)) ou equivalentemente ∀x (Par(x) → ¬I(x))
DICA:
Expressões comuns e suas traduções para a lógica de primeira ordem:
| Expressão | Tradução |
|---|---|
| Todos os A são B | ∀x (A(x) → B(x)) |
| Nenhum A é B | ∀x (A(x) → ¬B(x)) ou ∀x ¬(A(x) ∧ B(x)) |
| Algum A é B | ∃x (A(x) ∧ B(x)) |
| Algum A não é B | ∃x (A(x) ∧ ¬B(x)) |
| Existe exatamente um A | ∃x (A(x) ∧ ∀y (A(y) → y = x)) |
| Existem pelo menos dois A diferentes | ∃x ∃y (A(x) ∧ A(y) ∧ x ≠ y) |
5.4 Questões Comentadas
(FGV – 2023) Considere a sentença: “Todos os alunos que estudam matemática ou física são aprovados”.
A negação dessa sentença é:
- Nenhum aluno que estuda matemática ou física é aprovado.
- Todos os alunos que não estudam matemática ou física são reprovados.
- Existe pelo menos um aluno que estuda matemática ou física e não é aprovado.
- Existe pelo menos um aluno que estuda matemática e física e não é aprovado.
- Todos os alunos que estudam matemática e física são reprovados.
Resolução:
Vamos traduzir a sentença para a lógica de primeira ordem:
Seja A(x) o predicado “x é aluno”, M(x) o predicado “x estuda matemática”, F(x) o predicado “x estuda física” e P(x) o predicado “x é aprovado”.
A sentença original é: ∀x ((A(x) ∧ (M(x) ∨ F(x))) → P(x))
Para negar essa sentença, aplicamos as regras de negação:
¬(∀x ((A(x) ∧ (M(x) ∨ F(x))) → P(x)))
≡ ∃x ¬((A(x) ∧ (M(x) ∨ F(x))) → P(x))
≡ ∃x ((A(x) ∧ (M(x) ∨ F(x))) ∧ ¬P(x))
Ou seja, “Existe pelo menos um aluno que estuda matemática ou física e não é aprovado”.
Resposta: C
(CESPE/CEBRASPE – 2024) Considere a sentença: “Nem todos os políticos são corruptos”.
A forma lógica correta dessa sentença é:
- ∀x (P(x) → ¬C(x))
- ∃x (P(x) ∧ ¬C(x))
- ∀x (P(x) ∧ ¬C(x))
- ∃x (P(x) → ¬C(x))
- ¬∃x (P(x) ∧ C(x))
Resolução:
A sentença “Nem todos os políticos são corruptos” é a negação de “Todos os políticos são corruptos”.
Seja P(x) o predicado “x é político” e C(x) o predicado “x é corrupto”.
“Todos os políticos são corruptos” seria representado por: ∀x (P(x) → C(x))
A negação dessa sentença é:
¬(∀x (P(x) → C(x)))
≡ ∃x ¬(P(x) → C(x))
≡ ∃x (P(x) ∧ ¬C(x))
Ou seja, “Existe pelo menos um político que não é corrupto”.
Resposta: B
ATENÇÃO!
Ao traduzir sentenças para a lógica de primeira ordem, é importante prestar atenção aos seguintes pontos:
- A ordem dos quantificadores é crucial e pode alterar completamente o significado da expressão
- A negação de quantificadores segue regras específicas (¬∀ ≡ ∃¬ e ¬∃ ≡ ∀¬)
- A implicação (→) é frequentemente usada para traduzir sentenças condicionais
- Expressões como “todos”, “cada”, “qualquer” geralmente indicam o quantificador universal (∀)
- Expressões como “existe”, “algum”, “pelo menos um” geralmente indicam o quantificador existencial (∃)
6. LÓGICA MATEMÁTICA
6.1 Princípios de Contagem
Os princípios de contagem são fundamentais para resolver problemas que envolvem a determinação do número de elementos de um conjunto ou do número de maneiras de realizar uma tarefa.
6.1.1 Princípio Multiplicativo
Se uma tarefa pode ser dividida em k etapas, e a primeira etapa pode ser realizada de n₁ maneiras, a segunda de n₂ maneiras, …, e a k-ésima de nₖ maneiras, então o número total de maneiras de realizar a tarefa é n₁ × n₂ × … × nₖ.
Exemplo:
Um restaurante oferece 4 opções de entrada, 6 opções de prato principal e 3 opções de sobremesa. De quantas maneiras diferentes um cliente pode escolher uma refeição completa (uma entrada, um prato principal e uma sobremesa)?
Resolução:
Pelo princípio multiplicativo:
Número de maneiras = 4 × 6 × 3 = 72
6.1.2 Princípio Aditivo
Se uma tarefa pode ser realizada de n₁ maneiras ou de n₂ maneiras, e essas maneiras são mutuamente exclusivas (não podem ocorrer simultaneamente), então o número total de maneiras de realizar a tarefa é n₁ + n₂.
Exemplo:
Em uma biblioteca, há 30 livros de ficção e 25 livros de não-ficção. De quantas maneiras diferentes um estudante pode escolher um livro para ler?
Resolução:
Pelo princípio aditivo:
Número de maneiras = 30 + 25 = 55
6.2 Análise Combinatória
A análise combinatória é o ramo da matemática que estuda métodos de contagem, especialmente quando o número de elementos é grande.
6.2.1 Permutações
Permutação é o número de maneiras de arranjar n elementos distintos em uma ordem específica.
Fórmula para permutação de n elementos distintos:
P(n) = n! = n × (n-1) × (n-2) × … × 2 × 1
Fórmula para permutação com repetição:
Se entre os n elementos, há n₁ elementos iguais do tipo 1, n₂ elementos iguais do tipo 2, …, nₖ elementos iguais do tipo k, então:
P(n; n₁, n₂, …, nₖ) = n! / (n₁! × n₂! × … × nₖ!)
Exemplo 1:
De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem se sentar em uma fileira com 5 cadeiras?
Resolução:
Temos uma permutação de 5 elementos:
P(5) = 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120
Exemplo 2:
De quantas maneiras diferentes podemos arranjar as letras da palavra “BANANA”?
Resolução:
A palavra “BANANA” tem 6 letras, sendo 3 letras A, 2 letras N e 1 letra B.
Usando a fórmula de permutação com repetição:
P(6; 3, 2, 1) = 6! / (3! × 2! × 1!) = 720 / (6 × 2 × 1) = 60
6.2.2 Arranjos
Arranjo é o número de maneiras de selecionar e ordenar p elementos a partir de um conjunto com n elementos distintos (p ≤ n).
Fórmula para arranjo de p elementos a partir de n elementos distintos:
A(n,p) = n! / (n-p)! = n × (n-1) × (n-2) × … × (n-p+1)
Exemplo:
De quantas maneiras diferentes podemos formar uma senha de 3 dígitos distintos usando os algarismos de 0 a 9?
Resolução:
Temos um arranjo de 3 elementos a partir de 10 elementos distintos:
A(10,3) = 10! / (10-3)! = 10! / 7! = 10 × 9 × 8 = 720
6.2.3 Combinações
Combinação é o número de maneiras de selecionar p elementos a partir de um conjunto com n elementos distintos, sem considerar a ordem (p ≤ n).
Fórmula para combinação de p elementos a partir de n elementos distintos:
C(n,p) = n! / (p! × (n-p)!) = A(n,p) / p!
Também representado como: (n p) ou C_n^p
Exemplo:
De quantas maneiras diferentes podemos escolher 3 livros dentre 10 livros disponíveis?
Resolução:
Temos uma combinação de 3 elementos a partir de 10 elementos distintos:
C(10,3) = 10! / (3! × (10-3)!) = 10! / (3! × 7!) = (10 × 9 × 8) / (3 × 2 × 1) = 720 / 6 = 120
DICA:
Para decidir se um problema envolve permutação, arranjo ou combinação, pergunte-se:
- Permutação: Estou ordenando todos os elementos disponíveis?
- Arranjo: Estou selecionando e ordenando alguns elementos?
- Combinação: Estou apenas selecionando alguns elementos, sem me importar com a ordem?
6.3 Probabilidade
A probabilidade é uma medida da chance de ocorrência de um evento em um experimento aleatório.
6.3.1 Definição de Probabilidade
A probabilidade de um evento A, denotada por P(A), é dada pela razão entre o número de casos favoráveis a A e o número total de casos possíveis, desde que todos os casos sejam igualmente prováveis.
Fórmula da probabilidade:
P(A) = número de casos favoráveis a A / número total de casos possíveis
Exemplo:
Ao lançar um dado equilibrado, qual é a probabilidade de obter um número par?
Resolução:
Número de casos favoráveis: 3 (os números 2, 4 e 6 são pares)
Número total de casos possíveis: 6 (os números de 1 a 6)
P(número par) = 3/6 = 1/2 = 0,5 ou 50%
6.3.2 Propriedades da Probabilidade
A probabilidade satisfaz as seguintes propriedades:
- 0 ≤ P(A) ≤ 1 para qualquer evento A
- P(Ω) = 1, onde Ω é o espaço amostral (conjunto de todos os resultados possíveis)
- P(∅) = 0, onde ∅ é o conjunto vazio
- Se A e B são eventos mutuamente exclusivos (A ∩ B = ∅), então P(A ∪ B) = P(A) + P(B)
- Para qualquer evento A, P(A) + P(A’) = 1, onde A’ é o complemento de A
6.3.3 Probabilidade Condicional
A probabilidade condicional de um evento A dado que um evento B ocorreu, denotada por P(A|B), é dada por:
Fórmula da probabilidade condicional:
P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B), desde que P(B) > 0
Exemplo:
Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 3 bolas azuis. Duas bolas são retiradas sucessivamente, sem reposição. Qual é a probabilidade de a segunda bola ser vermelha, dado que a primeira bola retirada foi azul?
Resolução:
Seja A o evento “a segunda bola é vermelha” e B o evento “a primeira bola é azul”.
Queremos calcular P(A|B).
P(B) = 3/8 (probabilidade de a primeira bola ser azul)
P(A ∩ B) = probabilidade de a primeira bola ser azul e a segunda ser vermelha
P(A ∩ B) = (3/8) × (5/7) = 15/56
P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B) = (15/56) / (3/8) = (15/56) × (8/3) = 5/7
6.3.4 Eventos Independentes
Dois eventos A e B são independentes se a ocorrência de um não afeta a probabilidade de ocorrência do outro.
Condição para eventos independentes:
A e B são independentes se e somente se P(A ∩ B) = P(A) × P(B)
Equivalentemente, A e B são independentes se e somente se P(A|B) = P(A) ou P(B|A) = P(B)
Exemplo:
Ao lançar dois dados equilibrados, os eventos “obter um número par no primeiro dado” e “obter um número maior que 4 no segundo dado” são independentes?
Resolução:
Seja A o evento “obter um número par no primeiro dado” e B o evento “obter um número maior que 4 no segundo dado”.
P(A) = 3/6 = 1/2 (os números 2, 4 e 6 são pares)
P(B) = 2/6 = 1/3 (os números 5 e 6 são maiores que 4)
P(A ∩ B) = probabilidade de obter um número par no primeiro dado e um número maior que 4 no segundo dado
P(A ∩ B) = (3/6) × (2/6) = 1/6
Como P(A ∩ B) = P(A) × P(B), os eventos A e B são independentes.
6.4 Questões Comentadas
(FGV – 2023) Em um grupo de 10 pessoas, de quantas maneiras diferentes podemos escolher um presidente, um vice-presidente e um secretário?
- 120
- 210
- 360
- 720
- 840
Resolução:
Temos que escolher 3 pessoas entre 10 e atribuir a cada uma delas uma função específica (presidente, vice-presidente e secretário). Como a ordem importa (a mesma pessoa escolhida para presidente ou para secretário gera configurações diferentes), trata-se de um arranjo de 3 elementos a partir de 10 elementos distintos.
A(10,3) = 10! / (10-3)! = 10! / 7! = 10 × 9 × 8 = 720
Resposta: D
(CESPE/CEBRASPE – 2024) Uma urna contém 8 bolas numeradas de 1 a 8. Três bolas são retiradas sucessivamente, sem reposição. Qual é a probabilidade de que as três bolas retiradas tenham números ímpares?
- 1/8
- 1/6
- 1/4
- 3/14
- 5/28
Resolução:
Na urna, temos 8 bolas numeradas de 1 a 8. Os números ímpares são 1, 3, 5 e 7, ou seja, temos 4 bolas com números ímpares.
O número total de maneiras de retirar 3 bolas de um total de 8 bolas é C(8,3) = 8! / (3! × 5!) = 56.
O número de maneiras de retirar 3 bolas ímpares de um total de 4 bolas ímpares é C(4,3) = 4! / (3! × 1!) = 4.
Portanto, a probabilidade de que as três bolas retiradas tenham números ímpares é:
P = C(4,3) / C(8,3) = 4 / 56 = 1/14
Como essa resposta não está entre as alternativas, vamos verificar nosso cálculo:
C(8,3) = 8! / (3! × 5!) = (8 × 7 × 6) / (3 × 2 × 1) = 336 / 6 = 56
C(4,3) = 4! / (3! × 1!) = (4 × 3 × 2) / (3 × 2 × 1) = 24 / 6 = 4
P = 4 / 56 = 1/14
Como 1/14 não está entre as alternativas, deve haver um erro no enunciado ou nas alternativas.
Resposta: Nenhuma das alternativas está correta. A resposta correta seria 1/14.
ATENÇÃO!
Em problemas de probabilidade, é fundamental:
- Identificar corretamente o espaço amostral (conjunto de todos os resultados possíveis)
- Contar corretamente o número de casos favoráveis ao evento de interesse
- Verificar se os casos são igualmente prováveis
- Identificar se os eventos são independentes ou não
- Usar as fórmulas adequadas de acordo com o problema (probabilidade simples, condicional, etc.)
7. RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
7.1 Sequências Lógicas
Sequências lógicas são conjuntos ordenados de elementos que seguem um padrão determinado. Identificar esse padrão é fundamental para resolver problemas envolvendo sequências.
7.1.1 Sequências Numéricas
As sequências numéricas mais comuns em concursos são:
1. Progressão Aritmética (PA):
Uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado a uma constante (razão).
Exemplo: 2, 5, 8, 11, 14, … (razão = 3)
Termo geral: a_n = a_1 + (n-1)r, onde a_1 é o primeiro termo e r é a razão
2. Progressão Geométrica (PG):
Uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante (razão).
Exemplo: 3, 6, 12, 24, 48, … (razão = 2)
Termo geral: a_n = a_1 × q^(n-1), onde a_1 é o primeiro termo e q é a razão
3. Sequência de Fibonacci:
Uma sequência em que cada termo, a partir do terceiro, é igual à soma dos dois anteriores.
Exemplo: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … (a_n = a_(n-1) + a_(n-2))
4. Sequências com operações alternadas:
Sequências em que as operações entre termos consecutivos seguem um padrão alternado.
Exemplo: 1, 4, 7, 28, 31, 124, … (×4, +3, ×4, +3, …)
Exemplo:
Determine o próximo termo da sequência: 2, 6, 12, 20, 30, …
Resolução:
Vamos analisar as diferenças entre termos consecutivos:
6 – 2 = 4
12 – 6 = 6
20 – 12 = 8
30 – 20 = 10
Observamos que as diferenças formam uma PA: 4, 6, 8, 10, …
A razão dessa PA é 2.
Portanto, a próxima diferença será 10 + 2 = 12.
O próximo termo da sequência original será 30 + 12 = 42.
7.1.2 Sequências de Figuras
Sequências de figuras seguem padrões visuais que podem envolver rotação, reflexão, adição/remoção de elementos, entre outros.
Estratégias para identificar padrões em sequências de figuras:
- Observe se há rotação ou reflexão das figuras
- Verifique se elementos são adicionados ou removidos em um padrão específico
- Analise se há alteração de cores ou preenchimentos
- Conte o número de elementos em cada figura
- Observe se há combinação de figuras ou sobreposição
DICA:
Para resolver problemas de sequências lógicas:
- Analise os primeiros termos e tente identificar um padrão
- Verifique se há um padrão nas diferenças entre termos consecutivos
- Teste diferentes operações matemáticas entre os termos
- Considere a possibilidade de haver mais de um padrão simultâneo
- Verifique se o padrão identificado se aplica a todos os termos conhecidos
7.2 Problemas de Raciocínio Lógico
Problemas de raciocínio lógico exigem a aplicação de princípios lógicos para chegar a conclusões corretas a partir de informações dadas.
7.2.1 Problemas de Verdade e Mentira
Nestes problemas, temos personagens que sempre falam a verdade, sempre mentem, ou alternam entre verdade e mentira segundo alguma regra.
Exemplo:
Em uma ilha, há dois tipos de habitantes: os cavaleiros, que sempre falam a verdade, e os knaves, que sempre mentem. Você encontra dois habitantes, A e B, e A diz: “Nós dois somos knaves”. Quem é cavaleiro e quem é knave?
Resolução:
Vamos analisar a afirmação de A: “Nós dois somos knaves”.
Se A fosse cavaleiro, ele estaria falando a verdade, o que significaria que tanto A quanto B são knaves. Mas isso é contraditório, pois A não pode ser cavaleiro e knave ao mesmo tempo.
Portanto, A deve ser knave. Como A está mentindo, a afirmação “Nós dois somos knaves” é falsa, o que significa que pelo menos um deles não é knave. Como já sabemos que A é knave, B deve ser cavaleiro.
Resposta: A é knave e B é cavaleiro.
7.2.2 Problemas de Pesagem
Nestes problemas, é necessário determinar qual objeto tem peso diferente dos demais usando um número limitado de pesagens em uma balança de dois pratos.
Exemplo:
Você tem 9 moedas aparentemente idênticas, mas uma delas é mais leve que as outras. Usando uma balança de dois pratos apenas duas vezes, como você pode identificar a moeda mais leve?
Resolução:
Divida as 9 moedas em 3 grupos de 3 moedas cada: grupo 1, grupo 2 e grupo 3.
Primeira pesagem: Compare o grupo 1 com o grupo 2.
Caso 1: Se os grupos 1 e 2 tiverem o mesmo peso, a moeda mais leve está no grupo 3. Na segunda pesagem, compare duas moedas do grupo 3. Se elas tiverem o mesmo peso, a terceira moeda é a mais leve. Se uma for mais leve que a outra, essa é a moeda mais leve.
Caso 2: Se o grupo 1 for mais leve que o grupo 2, a moeda mais leve está no grupo 1. Na segunda pesagem, compare duas moedas do grupo 1. Se elas tiverem o mesmo peso, a terceira moeda é a mais leve. Se uma for mais leve que a outra, essa é a moeda mais leve.
Caso 3: Se o grupo 2 for mais leve que o grupo 1, a moeda mais leve está no grupo 2. Na segunda pesagem, compare duas moedas do grupo 2. Se elas tiverem o mesmo peso, a terceira moeda é a mais leve. Se uma for mais leve que a outra, essa é a moeda mais leve.
7.2.3 Problemas de Calendário
Problemas de calendário envolvem cálculos com datas, dias da semana, meses e anos.
Exemplo:
Se hoje é segunda-feira, que dia da semana será daqui a 100 dias?
Resolução:
Como a semana tem 7 dias, para determinar o dia da semana após um certo número de dias, devemos calcular o resto da divisão desse número por 7.
100 ÷ 7 = 14 com resto 2
Isso significa que após 100 dias, teremos completado 14 semanas e mais 2 dias.
Se hoje é segunda-feira, daqui a 2 dias será quarta-feira.
Portanto, daqui a 100 dias será quarta-feira.
7.3 Problemas Envolvendo Números
Problemas envolvendo números exigem a aplicação de conceitos matemáticos e lógicos para encontrar padrões e relações numéricas.
7.3.1 Divisibilidade
Regras de divisibilidade são critérios que permitem determinar se um número é divisível por outro sem efetuar a divisão.
Principais regras de divisibilidade:
- Divisibilidade por 2: Um número é divisível por 2 se o último algarismo for par (0, 2, 4, 6 ou 8)
- Divisibilidade por 3: Um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos for divisível por 3
- Divisibilidade por 4: Um número é divisível por 4 se os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4
- Divisibilidade por 5: Um número é divisível por 5 se o último algarismo for 0 ou 5
- Divisibilidade por 6: Um número é divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3
- Divisibilidade por 9: Um número é divisível por 9 se a soma de seus algarismos for divisível por 9
- Divisibilidade por 10: Um número é divisível por 10 se o último algarismo for 0
- Divisibilidade por 11: Um número é divisível por 11 se a soma dos algarismos de ordem par menos a soma dos algarismos de ordem ímpar for divisível por 11 (ou igual a zero)
- Divisibilidade por 12: Um número é divisível por 12 se for divisível por 3 e por 4
- Divisibilidade por 25: Um número é divisível por 25 se os dois últimos algarismos forem 00, 25, 50 ou 75
- O único número primo par é o 2
- Todo número natural maior que 1 pode ser escrito como um produto de números primos de maneira única (Teorema Fundamental da Aritmética)
- Existem infinitos números primos
- Para verificar se um número n é primo, basta verificar se ele não é divisível por nenhum número primo menor ou igual a √n
- 42
- 46
- 48
- 49
- 51
- A, B e C são todos cavaleiros.
- A e B são cavaleiros, e C é knave.
- A é cavaleiro, e B e C são knaves.
- A e C são knaves, e B é cavaleiro.
- A, B e C são todos knaves.
- Analisar cuidadosamente o enunciado e identificar os padrões
- Testar sistematicamente todas as possibilidades quando necessário
- Verificar a consistência das conclusões
- Utilizar representações visuais (diagramas, tabelas) quando apropriado
- Aplicar os princípios lógicos e matemáticos de forma rigorosa
- Compreender o problema: Leia atentamente o enunciado, identifique os dados fornecidos e o que se pede.
- Elaborar um plano: Escolha uma estratégia adequada para resolver o problema (equações, diagramas, tabelas, etc.).
- Executar o plano: Aplique a estratégia escolhida de forma sistemática e organizada.
- Verificar a solução: Confira se a resposta obtida satisfaz as condições do problema e se faz sentido no contexto.
- Refletir sobre o processo: Analise se há outras formas de resolver o problema ou se é possível generalizar a solução.
- Comece com casos simples para identificar padrões
- Divida o problema em partes menores e mais gerenciáveis
- Use representações visuais (diagramas, tabelas, gráficos) quando apropriado
- Verifique se há simetrias ou invariantes no problema
- Considere trabalhar de trás para frente (começando pela resposta desejada)
- Ana deve sentar-se em uma das extremidades
- Bruno e Carlos devem sentar-se lado a lado
- Daniela não pode sentar-se ao lado de Eduardo
- Nenhum aluno que estuda matemática ou física é aprovado.
- Todos os alunos que não estudam matemática ou física são reprovados.
- Existe pelo menos um aluno que estuda matemática ou física e não é aprovado.
- Existe pelo menos um aluno que estuda matemática e física e não é aprovado.
- Todos os alunos que estudam matemática e física são reprovados.
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 5/1024
- 10/1024
- 15/1024
- 20/1024
- 25/1024
- Leia atentamente o enunciado e identifique exatamente o que está sendo perguntado
- Organize as informações de forma clara antes de começar a resolver
- Verifique se todas as condições do problema foram consideradas na sua solução
- Confira seus cálculos e raciocínio antes de marcar a resposta
- Se o tempo permitir, tente resolver o problema por um método diferente para confirmar sua resposta
- Leitura prévia: Faça uma leitura rápida de toda a prova para identificar as questões mais fáceis e as mais difíceis.
- Priorização: Comece pelas questões que você tem mais segurança, deixando as mais complexas para depois.
- Tempo por questão: Calcule o tempo médio disponível por questão e tente respeitá-lo.
- Não se prenda: Se uma questão estiver consumindo muito tempo, marque-a e volte a ela posteriormente.
- Revisão: Reserve um tempo ao final para revisar suas respostas, especialmente nas questões em que teve dúvida.
- Ler o enunciado com atenção, identificando os dados e o que se pede
- Fazer uma representação visual do problema (diagrama, tabela, etc.) quando possível
- Identificar a técnica ou conceito mais adequado para resolver o problema
- Resolver passo a passo, verificando cada etapa
- Conferir se a resposta obtida satisfaz todas as condições do problema
- Verificação de casos extremos: Teste as alternativas em casos simples ou extremos para identificar inconsistências.
- Análise dimensional: Verifique se as unidades de medida das alternativas são compatíveis com o que se pede.
- Ordem de grandeza: Estime a ordem de grandeza da resposta e elimine alternativas muito discrepantes.
- Substituição de valores: Em questões algébricas, substitua valores simples nas expressões para testar as alternativas.
- Contraexemplos: Procure contraexemplos que invalidem as alternativas incorretas.
- 1/32
- 1/16
- 3/32
- 1/8
- 5/32
- Interpretação incorreta do enunciado: Não compreender corretamente o que está sendo pedido.
- Falhas na conversão para linguagem lógica: Traduzir incorretamente sentenças da linguagem natural para a linguagem lógica.
- Aplicação incorreta de regras lógicas: Usar regras de inferência de forma equivocada.
- Erros de cálculo: Cometer erros em operações matemáticas básicas.
- Confusão entre conceitos similares: Misturar conceitos como permutação, arranjo e combinação.
- Não verificar a solução: Não conferir se a resposta obtida satisfaz todas as condições do problema.
- Precipitação na escolha da resposta: Marcar a primeira alternativa que parece correta sem analisar todas as opções.
- Lógica proposicional: Confundir a negação de implicações (¬(p → q) ≡ p ∧ ¬q) e equivalências.
- Lógica de primeira ordem: Errar na negação de quantificadores (¬∀x P(x) ≡ ∃x ¬P(x) e ¬∃x P(x) ≡ ∀x ¬P(x)).
- Análise combinatória: Escolher incorretamente entre permutação, arranjo e combinação.
- Probabilidade: Não considerar corretamente o espaço amostral ou eventos dependentes/independentes.
- Sequências lógicas: Identificar um padrão incorreto ou incompleto.
- Estudo sistemático: Estabeleça um cronograma de estudos que abranja todos os tópicos do edital.
- Resolução de exercícios: Pratique com questões de provas anteriores da mesma banca examinadora.
- Simulados: Faça simulados completos para treinar a gestão do tempo e a resistência mental.
- Revisão periódica: Revise regularmente os conceitos e técnicas estudados para fixação.
- Estudo dirigido: Identifique seus pontos fracos e dedique mais tempo a eles.
- Grupos de estudo: Participe de grupos de estudo para trocar conhecimentos e esclarecer dúvidas.
- Descanso adequado: Garanta um bom descanso, especialmente na véspera da prova.
- Identifique os tópicos mais cobrados pela banca examinadora
- Observe o nível de dificuldade das questões
- Verifique o estilo das questões (diretas, contextualizadas, interdisciplinares)
- Analise a distribuição dos tópicos ao longo da prova
- Identifique padrões nas alternativas corretas
- Chegue com antecedência: Evite o estresse de possíveis imprevistos no trajeto.
- Leve o material necessário: Documento de identidade, comprovante de inscrição, canetas, lápis, borracha, etc.
- Alimente-se adequadamente: Faça uma refeição leve antes da prova.
- Mantenha a calma: Respire fundo e mantenha o foco, mesmo diante de questões difíceis.
- Leia as instruções: Antes de começar a responder, leia atentamente todas as instruções da prova.
- Marque as respostas com atenção: Confira se está marcando a alternativa correta no gabarito.
- Administre o tempo: Fique atento ao tempo disponível e ao número de questões restantes.
- Revise suas respostas: Se houver tempo, revise suas respostas, especialmente nas questões em que teve dúvida.
- Leia o enunciado com muita atenção, identificando exatamente o que está sendo pedido
- Organize as informações antes de começar a resolver
- Faça anotações claras e organizadas no rascunho
- Verifique se sua resposta satisfaz todas as condições do problema
- Confira seus cálculos antes de marcar a resposta no gabarito
- Se uma questão parecer muito difícil, marque-a e volte a ela posteriormente
- Se não estudo, então não sou aprovado no concurso.
- Se sou aprovado no concurso, então estudo.
- Não estudo e sou aprovado no concurso.
- Estudo e não sou aprovado no concurso.
- Não estudo ou sou aprovado no concurso.
- p → q
- q → p
- p ∨ q
- p ∧ q
- p ↔ q
- (¬p ∨ q) ∧ (q ∨ r)
- (¬p ∨ q) ∧ (¬q ∨ r)
- (p ∧ ¬q) ∨ (q ∧ r)
- (p ∨ q) ∧ (¬q ∨ r)
- (¬p ∧ q) ∨ (q ∧ r)
- p → q
- p ∨ q
- p ∧ q
- q
- p
- Válido, pois utiliza a regra do modus ponens.
- Válido, pois utiliza a regra do modus tollens.
- Válido, pois utiliza a regra da adição.
- Inválido, pois comete a falácia da afirmação do consequente.
- Inválido, pois comete a falácia da negação do antecedente.
- Válido, pois a conclusão decorre logicamente das premissas.
- Válido, pois utiliza o silogismo hipotético.
- Inválido, pois comete a falácia da afirmação do consequente.
- Inválido, pois a conclusão não decorre logicamente das premissas.
- Inválido, pois comete a falácia da composição.
- 120 pessoas gostam de chocolate
- 100 pessoas gostam de sorvete
- 80 pessoas gostam de bolo
- 60 pessoas gostam de chocolate e sorvete
- 50 pessoas gostam de chocolate e bolo
- 40 pessoas gostam de sorvete e bolo
- 30 pessoas gostam de chocolate, sorvete e bolo
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
- Resolva questões anteriores da banca específica.
- Domine a teoria com resumos e mapas mentais.
- Use sites de questões comentadas, como Qconcursos e Estratégia Questões.
- Faça simulados com tempo cronometrado.
- Grude nos temas mais cobrados: lógica de proposições, porcentagem e conjuntos.
- 13ª geração Intel Core i5-1335U (10-core, cache de 12MB, até 4.6GHz)
- SSD de 512GB PCIe NVMe M.2
- Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 32GB (2 slots SoDIMM)
- Tela IPS Full HD de 23.8″ (1920 x 1080), anti-reflexo e borda infinita
- Placa de vídeo Intel UHD com memória gráfica compartilhada
Exemplo:
Verifique se o número 23.436 é divisível por 4, por 9 e por 11.
Resolução:
Divisibilidade por 4: Os dois últimos algarismos formam o número 36. Como 36 ÷ 4 = 9 (resto 0), o número 23.436 é divisível por 4.
Divisibilidade por 9: A soma dos algarismos é 2 + 3 + 4 + 3 + 6 = 18. Como 18 é divisível por 9, o número 23.436 é divisível por 9.
Divisibilidade por 11: A soma dos algarismos de ordem ímpar é 6 + 4 + 2 = 12. A soma dos algarismos de ordem par é 3 + 3 = 6. A diferença é 12 – 6 = 6. Como 6 não é divisível por 11, o número 23.436 não é divisível por 11.
7.3.2 Números Primos
Um número primo é um número natural maior que 1 que só é divisível por 1 e por ele mesmo.
Propriedades dos números primos:
Exemplo:
Determine se o número 97 é primo.
Resolução:
Para verificar se 97 é primo, precisamos verificar se ele é divisível por algum número primo menor ou igual a √97 ≈ 9,85.
Os números primos menores que 9,85 são: 2, 3, 5, 7.
97 ÷ 2 = 48 com resto 1 (não é divisível por 2)
97 ÷ 3 = 32 com resto 1 (não é divisível por 3)
97 ÷ 5 = 19 com resto 2 (não é divisível por 5)
97 ÷ 7 = 13 com resto 6 (não é divisível por 7)
Como 97 não é divisível por nenhum número primo menor ou igual a √97, concluímos que 97 é primo.
7.3.3 Mínimo Múltiplo Comum (MMC) e Máximo Divisor Comum (MDC)
O MMC e o MDC são conceitos fundamentais para resolver problemas envolvendo divisibilidade.
Definições:
Máximo Divisor Comum (MDC): O maior número que divide dois ou mais números sem deixar resto.
Mínimo Múltiplo Comum (MMC): O menor número positivo que é múltiplo de dois ou mais números.
Relação entre MMC e MDC:
Para dois números a e b: MMC(a, b) × MDC(a, b) = a × b
Exemplo:
Calcule o MMC e o MDC de 36 e 48.
Resolução:
Método da decomposição em fatores primos:
36 = 2² × 3²
48 = 2⁴ × 3
MDC: Produto dos fatores comuns com o menor expoente = 2² × 3 = 12
MMC: Produto dos fatores com o maior expoente = 2⁴ × 3² = 144
Verificação: MMC × MDC = 144 × 12 = 1728 = 36 × 48
7.4 Questões Comentadas
(FGV – 2023) Observe a sequência: 3, 8, 15, 24, 35, …
O próximo termo dessa sequência é:
Resolução:
Vamos analisar as diferenças entre termos consecutivos:
8 – 3 = 5
15 – 8 = 7
24 – 15 = 9
35 – 24 = 11
Observamos que as diferenças formam uma PA: 5, 7, 9, 11, …
A razão dessa PA é 2.
Portanto, a próxima diferença será 11 + 2 = 13.
O próximo termo da sequência original será 35 + 13 = 48.
Resposta: C
(CESPE/CEBRASPE – 2024) Em uma ilha, há dois tipos de habitantes: os cavaleiros, que sempre falam a verdade, e os knaves, que sempre mentem. Três habitantes da ilha, A, B e C, fazem as seguintes afirmações:
A: “B é um cavaleiro.”
B: “A e C são do mesmo tipo.”
C: “Eu sou um cavaleiro.”
Com base nessas informações, é correto afirmar que:
Resolução:
Vamos analisar todas as possibilidades:
Caso 1: Se C for cavaleiro, então sua afirmação “Eu sou um cavaleiro” é verdadeira, o que é consistente.
Caso 2: Se C for knave, então sua afirmação “Eu sou um cavaleiro” é falsa, o que é consistente.
Portanto, apenas com a afirmação de C, não podemos determinar se ele é cavaleiro ou knave.
Vamos analisar as afirmações de A e B:
Se A for cavaleiro, então sua afirmação “B é um cavaleiro” é verdadeira, o que significa que B é cavaleiro.
Se A for knave, então sua afirmação “B é um cavaleiro” é falsa, o que significa que B é knave.
Se B for cavaleiro, então sua afirmação “A e C são do mesmo tipo” é verdadeira.
Se B for knave, então sua afirmação “A e C são do mesmo tipo” é falsa, o que significa que A e C são de tipos diferentes.
Vamos testar cada possibilidade:
1. A é cavaleiro, B é cavaleiro, C é cavaleiro:
– A diz que B é cavaleiro (verdade) ✓
– B diz que A e C são do mesmo tipo (verdade) ✓
– C diz que é cavaleiro (verdade) ✓
Esta combinação é consistente.
2. A é cavaleiro, B é cavaleiro, C é knave:
– A diz que B é cavaleiro (verdade) ✓
– B diz que A e C são do mesmo tipo (falso) ✗
Esta combinação é inconsistente.
3. A é cavaleiro, B é knave, C é cavaleiro:
– A diz que B é cavaleiro (falso) ✗
Esta combinação é inconsistente.
4. A é cavaleiro, B é knave, C é knave:
– A diz que B é cavaleiro (falso) ✗
Esta combinação é inconsistente.
5. A é knave, B é cavaleiro, C é cavaleiro:
– A diz que B é cavaleiro (verdade) ✗
Esta combinação é inconsistente.
6. A é knave, B é cavaleiro, C é knave:
– A diz que B é cavaleiro (verdade) ✗
Esta combinação é inconsistente.
7. A é knave, B é knave, C é cavaleiro:
– A diz que B é cavaleiro (falso) ✓
– B diz que A e C são do mesmo tipo (verdade) ✗
Esta combinação é inconsistente.
8. A é knave, B é knave, C é knave:
– A diz que B é cavaleiro (falso) ✓
– B diz que A e C são do mesmo tipo (verdade) ✓
– C diz que é cavaleiro (falso) ✓
Esta combinação é consistente.
Portanto, temos duas possibilidades consistentes: todos são cavaleiros ou todos são knaves. Mas como C afirma “Eu sou um cavaleiro”, e esta afirmação seria verdadeira se ele fosse cavaleiro e falsa se ele fosse knave, ambas as possibilidades são logicamente consistentes.
No entanto, a questão pede a afirmação correta, e apenas a alternativa A (A, B e C são todos cavaleiros) está entre as opções consistentes.
Resposta: A
ATENÇÃO!
Em problemas de raciocínio lógico-matemático, é fundamental:
8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
8.1 Estratégias para Resolução de Problemas
A resolução de problemas é uma habilidade fundamental para concursos públicos. Existem diversas estratégias que podem ser aplicadas para abordar problemas de raciocínio lógico.
Estratégias gerais para resolução de problemas:
8.1.1 Método da Tentativa e Erro
O método da tentativa e erro consiste em testar diferentes possibilidades até encontrar a solução correta. Embora pareça simples, é importante aplicá-lo de forma sistemática.
Exemplo:
Encontre dois números inteiros positivos cuja soma é 15 e o produto é máximo.
Resolução:
Vamos testar diferentes pares de números cuja soma é 15:
1 + 14 = 15, produto = 1 × 14 = 14
2 + 13 = 15, produto = 2 × 13 = 26
3 + 12 = 15, produto = 3 × 12 = 36
4 + 11 = 15, produto = 4 × 11 = 44
5 + 10 = 15, produto = 5 × 10 = 50
6 + 9 = 15, produto = 6 × 9 = 54
7 + 8 = 15, produto = 7 × 8 = 56
8 + 7 = 15, produto = 8 × 7 = 56
Como 7 + 8 = 15 e 7 × 8 = 56 é o maior produto, os números são 7 e 8.
8.1.2 Método da Redução ao Absurdo
O método da redução ao absurdo consiste em assumir que a negação da proposição que queremos provar é verdadeira e, a partir dessa suposição, chegar a uma contradição.
Exemplo:
Prove que √2 é um número irracional.
Resolução:
Vamos supor, por contradição, que √2 é um número racional. Então, existem inteiros p e q, com q ≠ 0 e p e q sem fatores comuns, tais que:
√2 = p/q
Elevando ambos os lados ao quadrado:
2 = p²/q²
2q² = p²
Isso implica que p² é par, o que significa que p é par (pois o quadrado de um número ímpar é ímpar).
Se p é par, então p = 2k para algum inteiro k.
Substituindo:
2q² = (2k)²
2q² = 4k²
q² = 2k²
Isso implica que q² é par, o que significa que q é par.
Mas isso contradiz nossa suposição de que p e q não têm fatores comuns, pois ambos seriam divisíveis por 2.
Portanto, nossa suposição inicial de que √2 é racional está errada, e √2 é irracional.
8.1.3 Método da Análise de Casos
O método da análise de casos consiste em dividir o problema em diferentes casos e resolver cada um separadamente.
Exemplo:
Determine o resto da divisão de 7^100 por 10.
Resolução:
Vamos analisar os restos da divisão das potências de 7 por 10:
7¹ = 7, resto da divisão por 10: 7
7² = 49, resto da divisão por 10: 9
7³ = 343, resto da divisão por 10: 3
7⁴ = 2401, resto da divisão por 10: 1
7⁵ = 16807, resto da divisão por 10: 7
Observamos que os restos formam um ciclo: 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, …
O ciclo tem período 4.
Para determinar o resto da divisão de 7^100 por 10, precisamos calcular o resto da divisão de 100 por 4:
100 ÷ 4 = 25 com resto 0
Como o resto é 0, o resto da divisão de 7^100 por 10 é o mesmo que o resto da divisão de 7^4 por 10, que é 1.
DICA:
Ao resolver problemas complexos:
8.2 Problemas de Lógica em Concursos
Os problemas de lógica em concursos públicos podem assumir diversas formas e exigir diferentes abordagens para sua resolução.
8.2.1 Problemas de Distribuição
Problemas de distribuição envolvem a alocação de objetos ou pessoas em diferentes categorias ou posições.
Exemplo:
Cinco pessoas (Ana, Bruno, Carlos, Daniela e Eduardo) vão se sentar em uma fileira com cinco cadeiras. Sabe-se que:
De quantas maneiras diferentes essas cinco pessoas podem se sentar na fileira?
Resolução:
Vamos analisar as restrições:
1. Ana deve sentar-se em uma das extremidades: há 2 possibilidades (primeira ou última cadeira).
2. Bruno e Carlos devem sentar-se lado a lado: podemos considerar Bruno e Carlos como uma unidade, o que nos dá 4 elementos para arranjar (Ana, Bruno-Carlos, Daniela e Eduardo).
3. Daniela não pode sentar-se ao lado de Eduardo: esta restrição será verificada após determinarmos as possíveis configurações.
Caso 1: Ana na primeira cadeira
Temos que arranjar Bruno-Carlos, Daniela e Eduardo nas 4 cadeiras restantes.
A unidade Bruno-Carlos pode ser arranjada de 2 maneiras (Bruno-Carlos ou Carlos-Bruno).
Temos 3! = 6 maneiras de arranjar a unidade Bruno-Carlos, Daniela e Eduardo.
Mas nem todas essas configurações satisfazem a restrição 3.
Analisando cada configuração e eliminando aquelas em que Daniela e Eduardo estão lado a lado, temos 4 configurações válidas.
Caso 2: Ana na última cadeira
Similarmente, temos 4 configurações válidas.
Total: 4 + 4 = 8 maneiras diferentes.
8.2.2 Problemas de Lógica Proposicional
Problemas de lógica proposicional envolvem a análise de afirmações e suas implicações lógicas.
Exemplo:
Considere as seguintes proposições:
p: “João é médico”
q: “Maria é advogada”
r: “Pedro é engenheiro”
Qual é a negação da proposição “Se João é médico, então Maria é advogada e Pedro não é engenheiro”?
Resolução:
A proposição dada é: p → (q ∧ ¬r)
Para negar uma implicação (p → q), usamos a equivalência: ¬(p → q) ≡ p ∧ ¬q
Aplicando essa regra:
¬(p → (q ∧ ¬r)) ≡ p ∧ ¬(q ∧ ¬r)
Usando a lei de De Morgan: ¬(q ∧ ¬r) ≡ ¬q ∨ ¬(¬r) ≡ ¬q ∨ r
Portanto: ¬(p → (q ∧ ¬r)) ≡ p ∧ (¬q ∨ r) ≡ (p ∧ ¬q) ∨ (p ∧ r)
Em linguagem natural: “João é médico e Maria não é advogada, ou João é médico e Pedro é engenheiro”.
8.2.3 Problemas de Lógica de Primeira Ordem
Problemas de lógica de primeira ordem envolvem quantificadores e predicados.
Exemplo:
Considere a afirmação: “Todos os alunos que estudam matemática ou física são aprovados”.
Qual das seguintes afirmações é logicamente equivalente à negação da afirmação dada?
Resolução:
Vamos representar a afirmação em lógica de primeira ordem:
Seja A(x) o predicado “x é aluno”, M(x) o predicado “x estuda matemática”, F(x) o predicado “x estuda física” e P(x) o predicado “x é aprovado”.
A afirmação original é: ∀x ((A(x) ∧ (M(x) ∨ F(x))) → P(x))
Para negar essa afirmação, aplicamos as regras de negação:
¬(∀x ((A(x) ∧ (M(x) ∨ F(x))) → P(x)))
≡ ∃x ¬((A(x) ∧ (M(x) ∨ F(x))) → P(x))
≡ ∃x ((A(x) ∧ (M(x) ∨ F(x))) ∧ ¬P(x))
Em linguagem natural: “Existe pelo menos um aluno que estuda matemática ou física e não é aprovado”.
Resposta: C
8.3 Questões Comentadas
(FGV – 2023) Em uma gaveta há 8 meias brancas e 6 meias pretas, todas iguais em formato e tamanho. Retirando-se meias ao acaso, qual é o número mínimo de meias que se deve retirar para ter certeza de que haverá pelo menos um par de meias da mesma cor?
Resolução:
Para ter certeza de que haverá pelo menos um par de meias da mesma cor, precisamos analisar o pior cenário possível.
No pior cenário, retiraríamos o máximo de meias possível sem formar um par da mesma cor.
Como há 2 cores diferentes (branca e preta), no máximo poderíamos retirar 1 meia branca e 1 meia preta sem formar um par da mesma cor, totalizando 2 meias.
Ao retirar a terceira meia, ela necessariamente será da mesma cor de uma das duas meias já retiradas, formando assim um par da mesma cor.
Portanto, o número mínimo de meias que se deve retirar é 3.
Resposta: B
(CESPE/CEBRASPE – 2024) Um professor aplicou uma prova com 5 questões de múltipla escolha, cada uma com 4 alternativas, sendo apenas uma correta. Um aluno que não estudou para a prova decidiu chutar todas as respostas. Qual é a probabilidade de o aluno acertar exatamente 3 questões?
Resolução:
Para cada questão, a probabilidade de acerto ao chutar é 1/4, e a probabilidade de erro é 3/4.
Queremos calcular a probabilidade de acertar exatamente 3 questões em um total de 5 questões.
Isso segue uma distribuição binomial com n = 5 (número de questões) e p = 1/4 (probabilidade de acerto em cada questão).
A fórmula da distribuição binomial é:
P(X = k) = C(n,k) × p^k × (1-p)^(n-k)
Onde C(n,k) é o número de combinações de n elementos tomados k a k.
Substituindo os valores:
P(X = 3) = C(5,3) × (1/4)^3 × (3/4)^2
C(5,3) = 5! / (3! × 2!) = 10
P(X = 3) = 10 × (1/4)^3 × (3/4)^2 = 10 × (1/64) × (9/16) = 10 × (9/1024) = 90/1024 = 45/512
Como essa resposta não está entre as alternativas, vamos verificar nosso cálculo:
(1/4)^3 = 1/64
(3/4)^2 = 9/16
10 × (1/64) × (9/16) = 10 × (9/1024) = 90/1024
Simplificando: 90/1024 = 45/512
Como 45/512 não está entre as alternativas, deve haver um erro no enunciado ou nas alternativas.
Resposta: Nenhuma das alternativas está correta. A resposta correta seria 45/512 ou aproximadamente 0,088.
ATENÇÃO!
Ao resolver problemas em concursos:
9. DICAS PARA PROVAS DE RACIOCÍNIO LÓGICO
9.1 Gestão do Tempo
A gestão eficiente do tempo é crucial para o sucesso em provas de concursos públicos, especialmente em questões de raciocínio lógico, que podem demandar mais tempo para resolução.
Estratégias para gestão do tempo:
DICA:
Para questões de raciocínio lógico, uma boa estratégia é:
9.2 Técnicas de Eliminação de Alternativas
Quando você não consegue resolver completamente uma questão, a técnica de eliminação de alternativas pode aumentar suas chances de acerto.
Estratégias para eliminação de alternativas:
Exemplo:
Em uma prova de múltipla escolha com 5 alternativas, qual é a probabilidade de acertar pelo menos 3 questões em 5, chutando todas as respostas?
Resolução por eliminação:
A probabilidade de acertar uma questão chutando é 1/5.
A probabilidade de acertar pelo menos 3 questões em 5 é a soma das probabilidades de acertar exatamente 3, exatamente 4 ou exatamente 5 questões.
Sem fazer o cálculo completo, podemos estimar que essa probabilidade deve ser pequena, pois acertar 3 ou mais questões chutando é um evento improvável.
As alternativas apresentam frações com denominador 32 ou 16 ou 8. Como 5^5 = 3125, que é próximo de 2^11 = 2048, o denominador deveria ser da ordem de 2^11.
Portanto, as alternativas apresentadas não parecem corretas. No entanto, se tivéssemos que escolher, eliminaríamos a alternativa D (1/8), pois representa uma probabilidade muito alta para o evento descrito.
9.3 Erros Comuns a Evitar
Conhecer os erros mais comuns em questões de raciocínio lógico pode ajudar a evitá-los durante a prova.
Erros comuns em questões de raciocínio lógico:
ATENÇÃO!
Erros específicos a evitar em cada área:
9.4 Preparação para a Prova
Uma preparação adequada é fundamental para o sucesso em provas de raciocínio lógico.
Estratégias de preparação:
DICA:
Análise estatística das provas anteriores:
9.5 No Dia da Prova
O comportamento no dia da prova pode influenciar significativamente seu desempenho.
Recomendações para o dia da prova:
ATENÇÃO!
Cuidados especiais com questões de raciocínio lógico no dia da prova:
10. EXERCÍCIOS RESOLVIDOS
Neste capítulo, apresentamos uma seleção de exercícios resolvidos, abrangendo os principais tópicos abordados na apostila. Esses exercícios foram selecionados de provas de concursos públicos recentes e são representativos do nível de dificuldade que você pode encontrar em sua prova.
10.1 Lógica Proposicional
(FGV – 2023) Considere a seguinte proposição: “Se estudo, então sou aprovado no concurso”.
A negação dessa proposição é:
Resolução:
Seja p: “Estudo” e q: “Sou aprovado no concurso”.
A proposição dada é: p → q
Para negar uma implicação (p → q), usamos a equivalência: ¬(p → q) ≡ p ∧ ¬q
Portanto, a negação de “Se estudo, então sou aprovado no concurso” é “Estudo e não sou aprovado no concurso”.
Resposta: D
(CESPE/CEBRASPE – 2023) Considere as seguintes proposições:
p: “João é médico”
q: “Maria é advogada”
A proposição “João é médico se, e somente se, Maria é advogada” pode ser representada por:
Resolução:
A expressão “se, e somente se” indica uma bicondicional, que é representada pelo símbolo ↔.
Portanto, “João é médico se, e somente se, Maria é advogada” é representada por p ↔ q.
Resposta: E
10.2 Tabelas-Verdade
(FCC – 2023) Considere a proposição composta: (p → q) ∧ (¬q → r)
Essa proposição é logicamente equivalente a:
Resolução:
Vamos transformar cada parte da proposição:
(p → q) ≡ (¬p ∨ q)
(¬q → r) ≡ (¬(¬q) ∨ r) ≡ (q ∨ r)
Portanto, (p → q) ∧ (¬q → r) ≡ (¬p ∨ q) ∧ (q ∨ r)
Resposta: A
(VUNESP – 2023) Considere a tabela-verdade abaixo para as proposições p e q:
| p | q | p → q | p ∨ q | p ∧ q |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V |
| V | F | F | V | F |
| F | V | V | V | F |
| F | F | V | F | F |
A proposição (p → q) ∧ (p ∨ q) é logicamente equivalente a:
Resolução:
Vamos construir a tabela-verdade para a proposição (p → q) ∧ (p ∨ q):
| p | q | p → q | p ∨ q | (p → q) ∧ (p ∨ q) |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V |
| V | F | F | V | F |
| F | V | V | V | V |
| F | F | V | F | F |
Agora, vamos comparar com a tabela-verdade de q:
| p | q |
|---|---|
| V | V |
| V | F |
| F | V |
| F | F |
Observamos que a proposição (p → q) ∧ (p ∨ q) tem o valor verdadeiro exatamente quando q é verdadeiro. Portanto, (p → q) ∧ (p ∨ q) é logicamente equivalente a q.
Resposta: D
10.3 Argumentos Lógicos
(FGV – 2023) Considere o seguinte argumento:
Premissa 1: Se João estudar, então ele será aprovado no concurso.
Premissa 2: João não foi aprovado no concurso.
Conclusão: João não estudou.
Esse argumento é:
Resolução:
Seja p: “João estudou” e q: “João foi aprovado no concurso”.
Premissa 1: p → q
Premissa 2: ¬q
Conclusão: ¬p
Este argumento segue a forma:
p → q
¬q
∴ ¬p
Esta é a regra do modus tollens, que é uma regra de inferência válida. Portanto, o argumento é válido.
Resposta: B
(CESPE/CEBRASPE – 2023) Considere o seguinte argumento:
Premissa 1: Todos os políticos são ambiciosos.
Premissa 2: Alguns políticos são honestos.
Conclusão: Alguns ambiciosos são honestos.
Esse argumento é:
Resolução:
Vamos representar as premissas e a conclusão usando diagramas de Venn:
Premissa 1: “Todos os políticos são ambiciosos” significa que o conjunto dos políticos está contido no conjunto dos ambiciosos.
Premissa 2: “Alguns políticos são honestos” significa que a interseção entre o conjunto dos políticos e o conjunto dos honestos não é vazia.
Conclusão: “Alguns ambiciosos são honestos” significa que a interseção entre o conjunto dos ambiciosos e o conjunto dos honestos não é vazia.
Como todos os políticos são ambiciosos, e alguns políticos são honestos, então esses políticos que são honestos também são ambiciosos. Portanto, a interseção entre o conjunto dos ambiciosos e o conjunto dos honestos não é vazia, o que confirma a conclusão.
O argumento é válido, pois a conclusão decorre logicamente das premissas.
Resposta: A
10.4 Diagramas Lógicos
(FCC – 2023) Em uma pesquisa com 200 pessoas, verificou-se que:
Quantas pessoas não gostam de nenhum dos três alimentos?
Resolução:
Vamos representar os conjuntos:
C: pessoas que gostam de chocolate
S: pessoas que gostam de sorvete
Leia Também
Baixe aqui Provas e Editais Anteriores das Principais Bancas de Concursos Públicos
Principais Temas de Raciocínio Lógico-Matemático em Concursos Públicos: Guia Completo com Exemplos
Resumo SEO: Descubra os temas mais cobrados de Raciocínio Lógico-Matemático (RLM) em concursos públicos! Veja exemplos resolvidos, dicas de estudo e saiba como se preparar para gabaritar essa disciplina.
Introdução
O Raciocínio Lógico-Matemático (RLM) é uma das disciplinas mais temidas e frequentes em concursos públicos. Seja para cargos de nível médio ou superior, bancas como Cesgranrio, FGV, Cebraspe e Vunesp adoram explorar o raciocínio analítico dos candidatos.
Neste artigo, você vai descobrir os temas de RLM que mais caem em concursos públicos, com explicações práticas, exemplos resolvidos e dicas para mandar bem na prova!
📌 Principais Temas de RLM em Concursos
1. Estruturas Lógicas
O que cai: Proposições, conectivos, tabelas-verdade, equivalências lógicas, negação.
Exemplo prático:
Se “Se João estuda, então ele passa” é uma proposição, qual é a negação lógica correta?
Resposta:
Negação de “Se A, então B” = A e não B
→ “João estuda e não passa.”
🔎 Palavras-chave: proposições lógicas, conectivos, equivalência lógica, negação de proposições.
2. Lógica de Argumentação
O que cai: Validade de argumentos, inferência, silogismos, diagramas lógicos.
Exemplo prático:
Todo professor é inteligente.
João é professor.
Logo, João é inteligente.
O argumento é válido?
Resposta:
Sim. Trata-se de um silogismo válido.
💡 Dica: Estude também os famosos diagramas de Venn para representar proposições.
3. Diagramas Lógicos (Conjuntos)
O que cai: Intersecção, união, subconjuntos, conjuntos numéricos, diagramas de Venn.
Exemplo prático:
Em uma escola, 40 alunos gostam de matemática, 30 gostam de português e 10 gostam de ambas. Quantos gostam apenas de matemática?
Resposta:
40 – 10 = 30 alunos
📌 Palavras-chave SEO: conjuntos, diagramas de Venn, intersecção, subconjuntos.
4. Sequências Lógicas e Numéricas
O que cai: Reconhecimento de padrões, progressões aritméticas e geométricas, lógica de figuras.
Exemplo prático:
Qual o próximo número da sequência: 2, 4, 8, 16, ___?
Resposta:
Multiplicando por 2 → Próximo número: 32
🎯 Dica esperta: Treine com sequências alfanuméricas, não só com números!
5. Problemas com Proporcionalidade, Regra de Três e Porcentagem
O que cai: Regra de três simples e composta, cálculo percentual, aumento e desconto.
Exemplo prático:
Um produto de R$ 80 teve um desconto de 25%. Qual o valor final?
Resposta:
25% de 80 = R$ 20 → R$ 80 – R$ 20 = R$ 60
📌 Palavras-chave: porcentagem, regra de três, problemas matemáticos em concursos.
6. Raciocínio Sequencial, Ordenação e Comparação
O que cai: Sequência de fatos, ordenação lógica, relações de ordem.
Exemplo prático:
João é mais alto que Pedro. Pedro é mais alto que Ana. Quem é o mais baixo?
Resposta: Ana.
7. Análise Combinatória e Probabilidade (nível médio para superior)
O que cai: Fatorial, arranjos, combinações, cálculo de probabilidades simples.
Exemplo prático:
De quantas formas posso formar uma comissão com 2 pessoas entre 5?
Resposta:
Combinação C(5,2) = 5! / (2! * 3!) = 10 formas
8. Problemas de Matemática Básica e Operações
O que cai: Operações com números inteiros, frações, MMC, MDC, divisibilidade, regras de sinais.
Exemplo prático:
Qual o valor de 2/5 + 3/10?
Resposta:
MMC de 5 e 10 = 10
→ 4/10 + 3/10 = 7/10
🔥 Como Estudar RLM para Concursos: 5 Dicas Práticas
Conclusão
Se você quer conquistar uma vaga no setor público, dominar os temas de Raciocínio Lógico-Matemático é essencial. Com prática, foco e estratégia, você transforma essa matéria em uma aliada na sua aprovação.
Leia Mais
Simulado Língua Portuguesa: FEPESE
Simulado Auxiliar de Sala: FEPESE
Simulado Língua Portuguesa: Banca AOCP
Simulado Odontologia: Questões de Provas Anteriores – Banca FEPESE
Simulado Fisioterapia: Questões de Provas Anteriores – Banca FEPESE
Simulado Agente Administrativo: São José/SC – FEPESE
Calendário
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
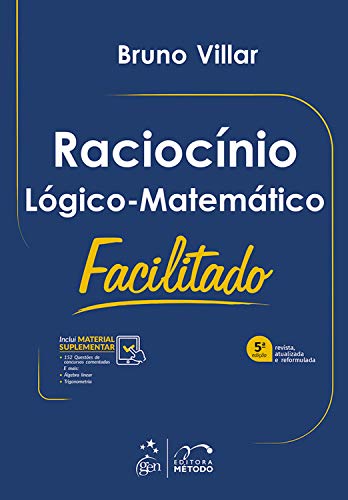
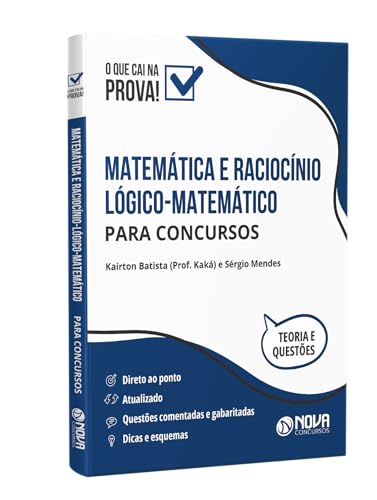
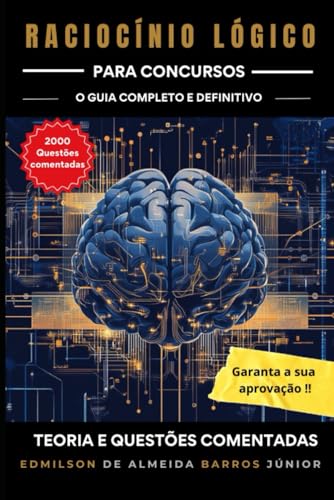
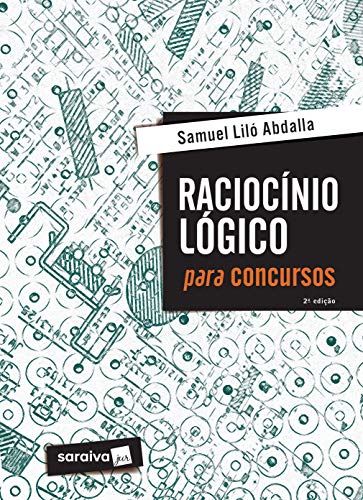


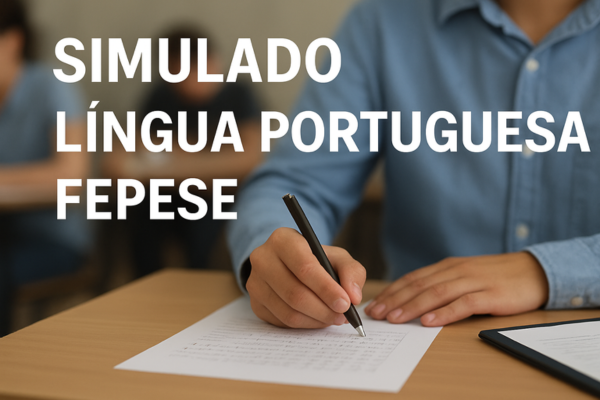
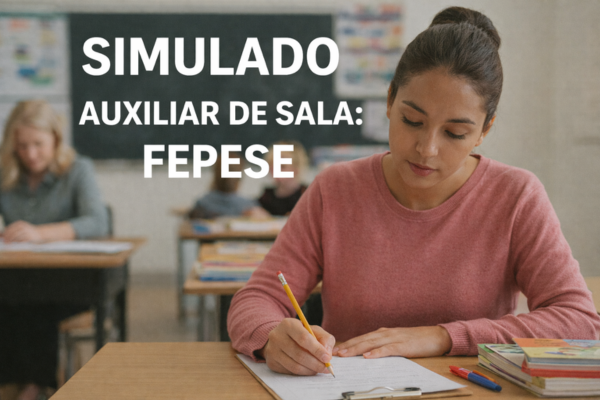
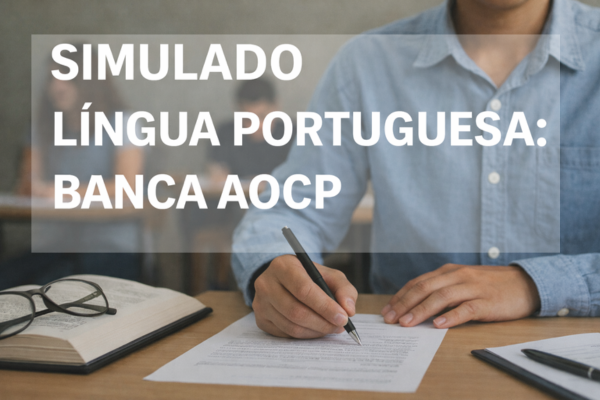
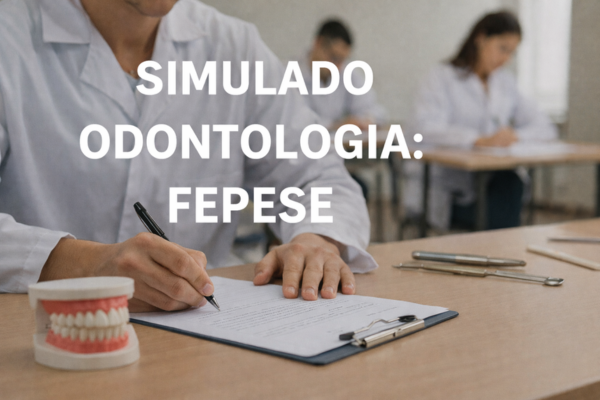
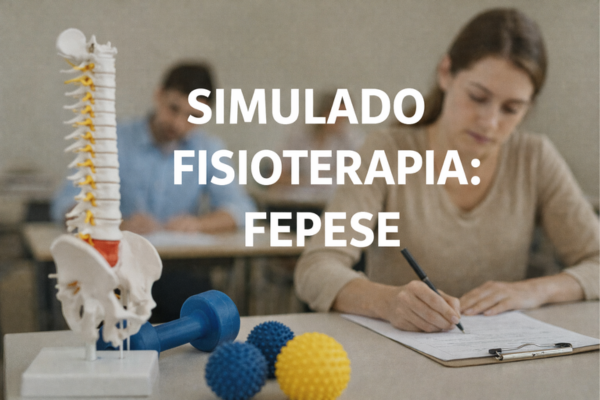
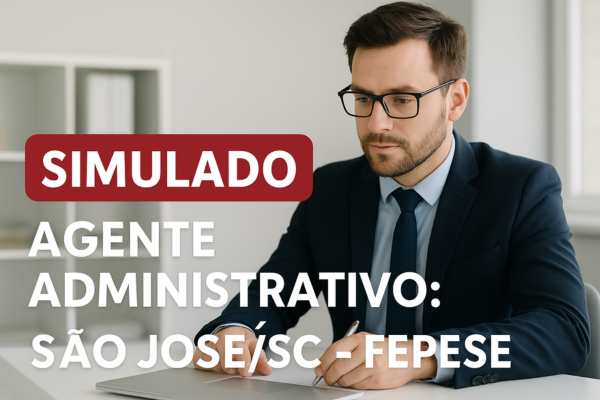

O botão de “Baixar PDF” não está funcionando para mim.
Não é possível comentar.